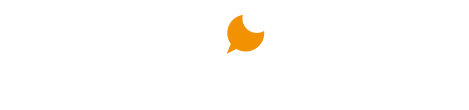O Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que o deixa, disparado, no topo do ranking de países com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras. O dado, publicado pela ONG Transgender Europe (TGEu) em novembro de 2016, é assustador, mas não representa novidade para essa parcela quase invisível da sociedade brasileira, que precisa resistir a uma rotina de exclusão e violência.
Segundo o relatório da TGEu, o país registra, em números absolutos, mais que o triplo de assassinatos do segundo colocado, o México, onde foram contabilizadas 256 mortes entre janeiro de 2008 e julho de 2016. Em números relativos, quando se olha o total de assassinatos de trans para cada milhão de habitantes, o Brasil fica em quarto lugar, atrás apenas de Honduras, Guiana e El Salvador.
Esses dados são mascarados pela dificuldade de contabilizar os crimes. Em muitos países, não é possível obter informações confiáveis. E, naqueles em que há registros, são comuns, por exemplo, notícias e boletins de ocorrência que identificam a vítima como “homem com roupas de mulher”. O monitoramento da TGEu também não contabiliza episódios como o assassinato do vendedor Luiz Carlos Ruas, 54 anos, espancado em uma estação de metrô de São Paulo, na noite de Natal, após defender uma mulher trans que estava sendo agredida.
Por tudo isso, as mais de 800 vidas perdidas no Brasil e as 2.190 no mundo são apenas a ponta do iceberg. Mas as histórias que passam pelo filtro do preconceito e da falta de informações deixam claro o estado de vulnerabilidade das pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que foi atribuído a elas no nascimento.
Em 2014, no Rio de Janeiro, um pai espancou até a morte uma criança de 8 anos, para ensiná-la “a ser homem”. Alex vestia roupas femininas e rebolava enquanto lavava a louça. O monitoramento da TGEu também conta a história de uma garota trans de 13 anos de Araraquara (SP), vítima de exploração sexual, encontrada com 15 facadas pelo corpo, incluindo a cabeça e a face, além de uma fratura no crânio. Em outra ocorrência, em 2010, Erica, 14, levou 11 tiros em Maceió. Vanessa, também de 14 anos, recebeu ameaças de morte da própria avó e foi estrangulada, em 2014, em Angélica (MS). O Correio noticiou casos assim aqui, aqui e aqui.
Na pior
A travesti e webcelebridade Luisa Marilac, 40 anos, não se surpreende com o volume de pessoas mortas por transfobia no Brasil. Ela já esteve na pior: recorreu à prostituição, se submeteu a condições extremas de insegurança e, hoje, se considera uma sobrevivente. “Já enterrei muitas amigas. Das que começaram comigo, na prostituição, três ou quatro sobreviveram”, conta.
Depois de ficar famosa com um vídeo engraçado no YouTube, Marilac voltou ao Brasil disposta a se tornar celebridade. Foi a programas de tevê, deu entrevistas e sofreu com a forma como as pessoas a viam. “Eles (produtores) me davam um roteiro com o que eu deveria falar e como eu tinha de me comportar.” Quando resolveu falar sério, ficou em segundo plano: “A travesti só serve quando é caricata”, lamenta.
Decidida a não recorrer mais à prostituição, ela conseguiu emprego em um hotel de São Paulo direcionado ao público gay. Foi promovida e se sentiu orgulhosa. “Era camareira e gostava de sair nas ruas vestindo o uniforme”, comenta. A discriminação e a violência, contudo, logo deram as caras, e o trabalho durou menos de três meses. Hoje, ela denuncia, na Justiça, assédio moral, agressão e sujeição a condições precárias sofridos no local.
Agora mais cuidadosa, Luisa Marilac fala sobre a realidade de transexuais e travestis na revista on-line feminista AZMina. Ela também dá palestras motivacionais em empresas, prepara a autobiografia e aposta na carreira de youtuber. Em um dos vídeos de seu canal na rede social, ela conta a primeira vez em que escapou de uma tentativa de assassinato (veja trecho ao lado; o vídeo completo está aqui). Todas essas atividades, porém, ainda não são suficientes para sustentá-la. Por enquanto, ela conta com a ajuda do marido, mas a meta é tomar “bons drinques” quando a carreira finalmente engrenar.
Razões
A pesquisa da TGEu aponta algumas razões para que esse cenário de violência se apresente no Brasil e em outros países da América Latina, região que reúne 78% dos homicídios relatados no documento. Entre os motivos, estão grandes níveis de violência no contexto histórico (colonialismo, escravidão, ditaduras), alta vulnerabilidade de transexuais na prostituição e a falha do Estado em prevenir e investigar esses crimes.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) afirma que as denúncias de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis aumentaram 94% no país entre 2015 e 2016. Os casos incluem também abusos psicológicos, discriminação e violência sexual.
“Temos uma cultura bastante sexista, de negar ao outro a condição de sujeito de direito”, analisa Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos do governo Temer. “Nos parece fundamental a criminalização da LGBTfobia, mas temos um cenário preocupante, com as bancadas religiosas e o cenário pós-Trump. Os discursos discriminatórios ganharam muita visibilidade”, afirma, sem oferecer grandes esperanças para transexuais e travestis brasileiros.

Luisa Marilac/Foto: Reprodução
Polêmica e agressões
A secretária menciona uma das maiores demandas da comunidade LGBT no país. Para os movimentos organizados, criminalizar atos de ódio e discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros seria um passo importante para reduzir a violência contra esses grupos. Há um projeto de lei sobre o tema em tramitação no Congresso, como mostrará uma das reportagens deste especial.
Para chamar a atenção a essa demanda, os organizadores da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo incluíram, na manifestação de 2015, uma performance em que uma atriz trans aparecia crucificada sob os dizeres “Basta de homofobia com GLBTs”. A cena repercutiu no mundo todo e provocou intensos debates no Brasil.
No Congresso, houve os que defenderam o gesto, como o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), que publicou artigo sobre o episódio, e aqueles que condenaram a iniciativa, por a considerarem um desrespeito a símbolos cristãos. Um dos maiores críticos foi Magno Malta (PR-ES), que se manifestou em discurso no plenário do Senado Federal.
Ninguém, contudo, foi tão afetado pela polêmica quanto a atriz e modelo Viviany Beleboni, que realizou a performance na Avenida Paulista. Após o episódio, a gaúcha de 29 anos recebeu uma série de ameaças, inclusive de morte, pelas redes sociais. Ela também denunciou duas agressões sofridas na rua, perto de onde mora, na capital paulista. Viviany conta que fez boletim de ocorrência apenas do primeiro ataque. “Como vi que não houve retorno nenhum, eu não quis fazer o boletim da segunda vez, porque só me senti mais ameaçada e com mais medo”, diz.
Segundo Viviany, desde que fez a transição, aos 21 anos, ela não tinha sido mais agredida. “Eu sofri mesmo na escola. Apanhei com pedaço de pau, e faziam fila pra me bater”, lembra. Depois do protesto na parada, a violência voltou, o que a deixou assustada e deprimida. “Eu já tentei me matar. Não era nem para estar viva. Tomei muitos remédios, e a sorte foi que um amigo percebeu que eu não respondia mais pelo WhatsApp e mandou a polícia lá em casa.”
Passado cerca de um ano e meio da manifestação, Viviany continua sua carreira e comemora projetos recentes, mas diz que a sensação de insegurança permanece. “Eu tenho síndrome do pânico e tomo remédio para controlar as crises. Quando eu estou em algum lugar, acho que alguém pode vir me bater ou me dar dois tiros.”
Hoje, a atriz se diz mais politizada e gosta de saber quais são os políticos que apoiam os direitos de transexuais. Mas se mostra com pouca esperança de ver mudanças rápidas no país. “Penso muito em ir embora do Brasil”, revela.