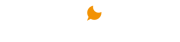O direito à vida é cediço, não depende de consensos humanos. A inviolabilidade da vida humana há de ser garantida pelo simples fato de alguém “ser humano”, independentemente do ambiente em que se encontre (intra ou extrauterino). O nascituro, de fato pessoa humana, tem direitos resguardados, a começar pelo direito à vida, primeiro na ordem natural e pressuposto de todos os demais.
A proibição à violação ao bem jurídico fundamental da vida humana é, assim, expressão de direito natural que encontrou e encontra positivação nos ordenamentos jurídicos das mais diversas sociedades, a brasileira inclusive, que afirma – tanto em nível infraconstitucional quanto constitucional – a inviolabilidade da vida humana desde a concepção até a morte natural, tipificando como crimes o homicídio e o aborto. A proteção ao ser humano ainda não nascido também está positivada em tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário.
Por tais razões, não prevê a lei infraconstitucional brasileira qualquer hipótese de aborto legal. Daí porque o legislador ter estabelecido que “não se pune” o aborto nas hipóteses do artigo 128, incisos I e II, do Código Penal. Mesmo em tais hipóteses, a prática do aborto é um crime, e o apenamento é apenas excluído.
Sucede que, nestes nossos tempos proclamadamente pós-modernos – época na qual a verdade supostamente não existe, não pode ser alcançada ou mesmo não importa –, tal qual nas eras pagãs, os barbarismos de toda ordem ressurgem, e o derramamento do sangue de bebês inocentes é agora postulado como direito, um suposto direito humano fundamental. Segundo essa novel agenda, a liberdade de decidir se, quando e como reproduzir-se seria incompatível com a criminalização da conduta abortiva, constituindo a repressão penal ao aborto até mesmo uma forma de tortura às mulheres.
Os “direitos humanos” são instrumentalizados contra o próprio ser humano.
Bem observados, porém, os chamados “novos” direitos humanos defendidos pela agenda abortista nada têm de humanos. São, na verdade, um artifício destinado a manipular o sistema legal e instrumentalizar o Judiciário e seus juízes “empoderados” por um desenfreado ativismo para, contornando as legítimas opções do povo e de seus representantes, impor-se uma nova ética jurídica de valores relativos. Nesse processo, a ética clássica (fundada no fazer o bem e não fazer o mal), que pressupõe a existência de preceitos morais imutáveis, a verdade segundo a natureza das coisas e a natureza humana, é substituída por uma nova ética universal de valores relativos e uma nova ética universal de vida sustentável: ecologismo messiânico, a difusão da ideia de controle populacional e do abortismo (lido agora como um “novo” direito humano – um direito sexual e reprodutivo).
Utilizando-se dos meios de propaganda de massa e da estrutura educacional formal, por meio da manipulação da linguagem, da gradativa modificação do conteúdo semântico de conceitos-chave genéricos e de muitos dos nominados “direitos fundamentais”, a pauta ideológica do aborto busca avançar. Encontrando, porém, natural resistência do corpo social e de seus legítimos representantes no parlamento, procura essa agenda provocar decisões ativistas do Poder Judiciário, em especial da suprema corte, para alcançar seus propósitos.
É nesse contexto que muitos da comunidade jurídica – em especial membros do Poder Judiciário –, sobre os quais muito pesa da responsabilidade de se contrapor à tragédia, garantindo basilar direito dos mais vulneráveis, omitem-se ou, o que é ainda pior, autorizam que sejam os bebês exterminados.
Há aproximadamente seis anos, em 2012, por maioria de votos e legitimando precedentes ativistas de instâncias inferiores, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, descriminalizou o aborto de bebês anencéfalos. Não bastasse a consequencial tragédia da desproteção jurídica aos seres humanos desse mal acometidos, a decisão tomada pela corte suprema vem sendo massiva e reiteradamente invocada, nas diferentes instâncias, para legitimar a eugenia, isto é, o abortamento de bebês que padecem das mais diversas enfermidades, como a síndrome de Edwards, rins multicísticos, anomalias congênitas, síndrome de Patau, agenesia renal e outras inúmeras deficiências ou quadros de má-formação. Em geral, o abortamento desses bebês se dá mediante a expedição de urgentes alvarás autorizativos de suas mortes e sem que se lhes garanta o processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Não somente isso: a decisão tomada pela corte suprema na ADPF 54 abriu, pelo voto de alguns dos ministros (supostamente a maioria, cuja posição encontra-se condensada na ementa do julgamento), espaço considerável às vias argumentativas necessárias a outros passos ativistas direcionados à despenalização ou descriminalização da conduta abortiva em hipóteses cada vez mais largas, ou mesmo, o que é ainda pior, à declaração de tratar-se a conduta abortiva de um direito derivado da autodeterminação, da privacidade e da liberdade sexual e reprodutiva.
Havia da parte de alguns, quando do ajuizamento e julgamento da ADPF 54, o evidente interesse de abrir espaços e galgar as barreiras jurídicas para uma futura ampla legalização do aborto no Brasil. Daí ter sido desejada e comemorada pelos cultores da agenda abortista o fato de constarem, como fundamentos da decisão, expressões como “liberdade sexual e reprodutiva” e “autodeterminação”. Esses fundamentos foram importantes para que, passados aproximadamente quatro anos daquele julgamento, em novembro de 2016, a Primeira Turma do STF, no Habeas Corpus 124.306, decidisse, por maioria, nos termos do voto-vista do ministro Luís Roberto Barroso (que atuara como advogado da entidade autora no caso da ADPF 54), pela inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre.
E, supostamente maduros os tempos para se alcançar o propósito da ampla liberação da prática abortiva pela via judicial, um partido político ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, a fim de que, com eficácia geral e efeito vinculante, a suprema corte possa vir a declarar a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, isto é, o aborto livremente praticado nos três primeiros meses de gestação.
É preciso recordar, no entanto, que o poder constituinte originário já se manifestou a respeito da questão do aborto. Após as muitas discussões relacionadas ao tema, travadas na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, os constituintes optaram claramente por relegar a disciplina da repressão ao aborto ao âmbito da lei ordinária – leia-se o Código Penal. Bem por isso, a Advocacia-Geral da União, em parecer ofertado no bojo da ADPF 442, recordou “que a ausência de disposição constitucional a respeito do aborto não derivou de suposto descuido ou omissão dos parlamentares”, mas de “uma clara decisão do poder constituinte originário no sentido de delegar ao legislador infraconstitucional a competência para dispor sobre o tema, mantendo, desse modo, a vigência da legislação pré-constitucional”. Vê-se claramente que os dispositivos do Código Penal que criminalizam a conduta abortiva foram, assim, evidentemente recepcionados pela nova ordem constitucional e qualquer alteração nessa disciplina depende, conforme intenção expressa do legislador constituinte, de ulterior deliberação parlamentar.
A luta contra o aborto no Brasil
A propósito disso, após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional, por diversas vezes e após intensas discussões, em consonância com os valores do povo que representa e com os basilares valores civilizatórios, manifestou-se pela rejeição completa das tentativas de legalização do aborto. Bem ao contrário do que os promotores da agenda abortista sustentam, os representantes eleitos do povo brasileiro nunca se omitiram quanto à questão. Sempre rechaçaram legalizar o aborto.
Não por outro motivo, os defensores da referida agenda passaram a ver, há muitos anos, como de fato ainda o fazem, o Judiciário como a via possível à concretização de suas pretensões, o “locus estratégico para que avanços ocorram”.
Colocado o quadro, via ativismo judicial e com a escusa de uma atuação contramajoritária para garantia dos “novos” direitos humanos, ganha força um projeto ideológico que visa à integração ao ordenamento jurídico de uma determinada pauta de valores, dentre eles aqueles caros à agenda abortista, divergentes dos estampados na própria Constituição, nas leis e nos costumes e tradições da sociedade brasileira. Para esse fim, os “direitos humanos” são instrumentalizados contra o próprio ser humano, revelando-se, ainda, na discussão sobre o aborto, a absoluta contradição da invocação de uma atuação contramajoritária: afinal, o direito fundamental de minoria em questão é evidentemente o direito à vida do nascituro, mais fraco e completamente indefeso!
É assim que, recorrendo-se ao ativismo judicial, matérias como o aborto – que, no parlamento, não se consegue aprovar, por força de alguma vigilância, de legítima pressão popular e de episódios de expressa rejeição – encontram possibilidade de viabilização jurídica pela pena do juiz ativista, em especial quando atuante na corte suprema, ignorando-se, no processo, dispor a Constituição Federal que todo poder emana do povo, que o exerce por seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, segundo seu artigo 1.º, parágrafo único.
Matérias como o aborto encontram possibilidade de viabilização jurídica pela pena do juiz ativista.
Não se pode conceber que, sob o falacioso argumento de garantia dos postulados de laicidade do Estado e dos direitos fundamentais das minorias contra deliberações parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal – vergado sob a grita do politicamente correto da vanguarda iluminista –, regras básicas de organização dos poderes, os bens jurídicos constitucionais e os pilares civilizatórios mais elementares sejam ignorados.
Se é fato que o atuar independente dos magistrados é necessário à garantia dos direitos fundamentais, é preciso também destacar que, deixando os magistrados de conduzir-se sob o manto da virtude judicial da autocontenção, ao incorporar um ativismo judicial imoderado, colocam em risco valores fundamentais, a estabilidade das instituições e todo o sistema jurídico e político. Por seus membros assim agindo, o Poder Judiciário acaba por atingir diretamente o princípio da separação dos poderes, abalando a estrutura republicana e democrática, criando tensionamentos cujas consequências chegam a ser imprevisíveis.
É dever moral e jurídico dos juízes, de todas as instâncias, garantir, nos casos que lhes sejam submetidos, a tutela jurídica de cada vida humana, lembrando-se de que todo atentado contra o bem fundamental da vida reclama do ordenamento contundente reação e atrai também, para proteção à vida do nascituro indefeso – ser humano como todos nós em igual grau de dignidade –, a tutela penal. É, também, dever político dos juízes o de deferência a uma opção legítima do poder constituinte originário, sem o que restaria comprometida a estabilidade das instituições e a harmonia entre os poderes constituídos.
Inevitável que, ausente a virtude da autocontenção, reaja o parlamento para impedir a escalada de agravamento da situação. Divisa-se, como necessário remédio legal – pois onde falta a virtude, a lei deve, para o bem comum, coagir –, a tipificação, como crime de responsabilidade, da conduta de usurpar competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, sujeitando ao impeachment o juiz do supremo tribunal que na conduta incidir. Tal é o que propõe o Projeto de Lei 4.754/16, cuja discussão se mostra imperiosa, diante dos flagrantes episódios de usurpação pelo Poder Judiciário do poder constituinte originário.
Atentemos todos para a maior ameaça à dignidade humana de nossa história, a ADPF 442, a fim de que observem os magistrados seus deveres nos âmbitos moral, jurídico e político, evitando-se a consumação de gravíssima usurpação do poder constituinte originário – via ativismo judicial – e a legitimação do genocídio de indefesos seres humanos.
Daniel Serpentino é juiz de Direito em São Paulo e membro do Movimento Magistrados pela Justiça.