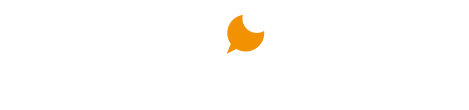O ano é 1980. O ambiente: bailinho de aniversário da amiga do colégio. De um lado o grupinho das meninas, do outro o dos garotos. Na vitrola toca aquela uma música mais romântica e, quase que como por convenção, ou clichê de cena de filme, o rapazinho tira a moça pra dançar.
E assim fomos ensinadas que deveria ser: a donzela se fazendo bela e impecável (e difícil!), aguardando o príncipe tomá-la pelos braços para serem felizes para sempre. Anos e anos de condicionamento comportamental. Na literatura, nos contos de fadas, na indústria televisiva e cinematográfica. A nossa educação sentimental seguiu, por muito tempo, à risca, uma cartilha de como tudo deveria ser, seguindo uma instituição em nome do status social, sufocando peculiaridades nas formas plurais de amar.
Aí veio chegando a era digital e a sensação é de que mais de um século se passou em quarenta décadas. A velocidade da comunicação tem nos tornado cada vez mais imediatistas, e, ao mesmo tempo, esvaziados de contato real. Estamos vivendo, de fato, “sem tempo, irmão” para as coisas mais simples, como um toque ou um contato visual olho a olho. É como se tudo se resumisse às telas, que damos mais atenção do que a quem está literalmente ao nosso lado. E, quando nos sentimos sozinhos, basta abrir um aplicativo e temos um cardápio humano a nossa disposição. Sim, um dos refúgios da modernidade para a carência afetiva são os aplicativos de encontros, que resumidamente falando, funcionam como um verdadeiro catálogo. Um simples deslizar de dedo para a direita ou para a esquerda, baseado em míseras quatro ou cinco fotos, e uma breve descrição superficial, define quem pode ou não ter acesso a você. Sendo uma escolha mútua, acontece o famoso “match”, onde ambos abrem uma janela de conversação e a conexão está criada. E aí é sempre um tiro no escuro, pois, no campo desconhecido e sinistro do espaço virtual, nunca se sabe ao certo quem está do outro lado.
Na mesma rapidez que as relações se estabelecem, elas se vão. E, neste vão do “não encontro”, reside um jogo silencioso, onde o vencedor é aquele que sente e se importa menos. Quem nunca viveu aquele ‘crush’ que tinha tudo pra ser, mas que, por força da liquidez do amor, ou (PASMEM) por falha de comunicação, não vingou e foi parar no limbo virtual dos likes e visualizações de stories?! Existe até um termo para tal: ORBITING – resumidamente, quase como um fantasma que orbita ao seu redor, acompanha sua vida virtualmente, mas não interage com você.
O fato é que, embora seja dolorido assumir, projetamos relacionamentos e visualizamos no nosso filminho imaginário tudo aquilo que esperamos do outro. Amamos a nossa própria imagem idealizada dentro de uma relação, e nos frustramos quando percebemos que as expectativas foram quebradas. E, por mais que exista um movimento de empoderamento emocional, onde o exercício diário é se bastar, no fundo mesmo todo mundo quer ter alguém pra compartilhar como foi seu dia. E haja terapia pra lidar com a falta de coragem geral em se abrir verdadeiramente para alguém nestes tempos confusos. Isso quando há o espaço para cuidar da sanidade mental. Uma sociedade adoecendo por falta de abraços e calor humano, por falta de autoconhecimento, vivendo uma superexposição nas redes sociais, mas com medo de expor afeto por quem mais tem interesse.
E assim caminhamos, sabe-se lá pra onde. Talvez não esteja mais assim tão distante o tempo onde nos relacionaremos com inteligências artificiais, capazes de suprir o vazio da atenção sem cobranças no dia seguinte. E sim, é de causar arrepio pensar que, talvez daqui a algum tempo, todo este formato esteja, de fato, reconfigurado. Mas, por hora, fica um questionamento: o esvaziamento das relações, resultado da imagem que projetamos no outro, seria, no fim das contas, o reflexo de um medo profundo de olhar para si mesmo?