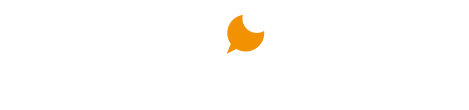No tempo em que embalava nos braços a boneca de pano feita pela mãe, aquela menina provavelmente não imaginava que conheceria as netas de seus netos. Mas, ao brincar de cuidar, já ensaiava a vasta maternagem que permearia sua história, no papel que estreou aos 16 anos.
Maria Nilce da Costa tornou-se, com o casamento aos 15, “de Oliveira”. Nasceu em 11 de maio de 1924 em Russas, no Ceará, e aos 9 anos de idade mudou-se com pai, mãe, irmão e irmã para Mossoró, no Rio Grande do Norte, a pouco mais de 80 km da cidade natal. “Tenho saudades da minha terra”, conta, referindo-se não a um estado, mas ao chão sem fronteiras que acolheu sua infância, quando gostava de andar a cavalo e de pescar.

Dona Maria Nilce de Oliveira completou 100 anos neste 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Foto: José Caminha/Secom
Mais tarde, a vida lhe ampliaria os horizontes a noroeste do Brasil. Pois, arregimentado pela campanha de promessas improváveis do governo de Getúlio Vargas, que recrutou os Soldados da Borracha para a Amazônia, com o fim de abastecer o aparato bélico dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Francisco Vitoriano, o pai, reuniu a família toda e em 1943 embarcaram para o Acre, partindo de navio da capital cearense, Fortaleza. E assim integraram o contingente de mais de 54 mil nordestinos que rumaram para a Amazônia na Batalha da Borracha.
Da viagem, dona Nilce rememora dois fatos de dimensão histórica. Um deles foi ter testemunhado, acompanhando a embarcação que os transportava – cujo nome, “Comandante Rip”, ela cita de cor -, o sobrevoo de um zepelim, possivelmente observando a movimentação, para transmitir informações ao comando alemão.
O outro é que, durante a noite, as luzes da nave precisavam ficar apagadas, porque submarinos alemães e italianos já haviam torpedeado e afundado diversos navios na costa marítima brasileira, fazendo mais de mil vítimas. Com ameaça real de um naufrágio, a tripulação distribuía coletes salva-vidas aos passageiros, situação que trazia um ambiente de tensão à viagem.
“Mas nós chegamos aqui no Acre em paz”, diz. E dirigiram-se ao Seringal Mercês, na região do município de Sena Madureira, nas imediações do Rio Iaco.
Nessa época, Maria Nilce já tinha sua primeira filha, Evanilda, que teve febre forte e faleceu em terras acreanas, aos 5 anos. O segundo, Francisco, viveu apenas três meses.

Maria Nilce (de pé, à esquerda), ao lado do marido, Etelvino, filhos, irmãos e sobrinhos. Pai e mãe sentados. Foto: acervo de família
Depois veio Raimundo, hoje com 76 anos. Desse período, a anciã se recorda de “muito trabalho” no cotidiano seringueiro com o marido, Etelvino. “Enquanto ele almoçava, eu defumava a borracha”, narra. Lembra-se também que artigos vindos da sede do seringal chegavam-lhes mensalmente em comboio de burros.
Com o declínio do Segundo Ciclo da Borracha, a família decidiu viver, em 1949, em Rio Branco. “Meu pai foi o único que tirou saldo”, relata, ilustrando a atroz realidade do regime de trabalho imposto pelos seringalistas, proprietários da terra. Os seringueiros, por um lado explorados pelo baixo valor pago pela borracha que produziam, e por outro extorquidos, ao serem obrigados a comprar mercadorias de preço inflacionado fornecidas pelo barracão da sede, sempre ficavam devendo ao patrão. O que configurava o ato de “tirar saldo”, ou seja, sair com lucro do desequilibrado contrato, uma façanha, em muitos casos punida com o súbito “desaparecimento” do trabalhador.
Essa prática abusiva é hoje reconhecida pela legislação brasileira como servidão por dívida, uma das modalidades do trabalho análogo à escravidão e crime previsto no artigo 149 do Código Penal.

Maria Nilce de Oliveira tem 86 descendentes: “Uma bênção”. Foto: Alessandro Oliveira
E foi exatamente com esse dinheiro que o patriarca Francisco comprou uma casa na Base, próxima às margens do Rio Acre, onde toda a família foi morar. Sua filha guarda memórias do período: “A gente descia os degraus da escada pra lavar roupa. Jogava a roupa ensaboada em cima da areia pra quarar, depois enxaguar. Hoje ninguém quara a roupa, né?”, compara. E a diversão era contemplada: “A gente descia pra tomar banho no rio também”.
Dona Maria Nilce revela que o pai e o irmão trabalharam na reforma do Hotel Chuí, antigo presídio da cidade, que atualmente abriga a prefeitura da capital acreana: “Aquilo era uma lindeza no mundo, os apartamentos; eu fui no dia da inauguração, ia olhando quarto por quarto. Quando terminou a construção, meu pai continuou empregado, virou gerente. Comi muita comida boa do hotel, língua de boi guisada, era muito bom”.
De sua família de origem, também menciona os gestos acolhedores da cultura nordestina, ainda cultivados entre os acreanos. “A mamãe era caridosa, cozinhava, fazia pirão, fazia um caldo e levava pros doentes na Santa Casa, um hospital que tinha na beira do rio. As pessoas comiam e ficavam alegres”, relembra.

Com Irina, a primeira tataraneta. Foto: acervo de família
Mais tarde, instalada com marido e filho em casa própria, “de palha”, na Rua João Donato, atualmente região central da cidade, viu ampliar-se a prole do casal: vieram Sebastião, José, Francisco e Antônio. “Era um atrás do outro. Eu vivia só pra cuidar de menino e da casa”, relata. “A gente fazia tudo; o café a gente torrava e pisava no pilão”.
Também não lhe escapou da lembrança o nome da amiga parteira que a ajudava na hora de os bebês nascerem: “Maria Cassiana”, pronuncia com saudade e carinho. “Tudo parto normal e em casa”, descreve.
O marido, durante o dia era calafetador de embarcação na Base e, à noite, trabalhava construindo a nova casa “com telha de barro” na Rua Marechal Deodoro. Uma nova ruma de crianças chegou nessa “casa de madeira vinda de carroça”. Era a vez de Luiz, Terezinha, Maria do Socorro, Paulo e Mauro. Foram feitos muitos filhos sim, “mas não tinha beijo na boca como hoje”, informa, rindo das transformações de comportamento.

Flha Socorro e neta Luciana estão entre os familiares que acompanham de perto o cotidiano de dona Maria Nilce. Foto: José Caminha/Secom
Aos 57 anos, enfrentou a viuvez. Com resiliência, seguiu em frente e foi bastante autônoma até os 90, quando contraiu erisipela (inflamação provocada na pele por bactéria) no pé e ficou um ano sem andar. O médico quis amputar o membro, gravemente lesionado, mas a família resistiu, felizmente. E as netas que trabalham na área da saúde se empenharam em auxiliar no restabelecimento da avó, que venceu a travessia sã e salva. “Sou um milagre”, reconhece.
Desde então, para se fortalecer fisicamente, dona Nilce passou a praticar pilates. A fisioterapeuta Luisa Hertz acompanhou sua jornada de reabilitação e, há quase dez anos trabalhando com dona Nilce, ainda se admira de sua atitude perante a vida: “Ela chegou ao meu consultório em cadeira de rodas e realmente teve uma recuperação surpreendente. Acredito que seu temperamento positivo a ajudou muito, pois ela vive o momento presente de forma leve e tranquila. Hoje segue fazendo exercícios de fisioterapia para equilíbrio, força e estabilização, com a mesma disposição de sempre. E se tornou mais do que uma paciente para mim; é também uma amiga muito querida”.
A filha Socorro, com quem mora, ratifica a desconcertante vitalidade da genitora: “A mamãe senta e levanta sem ajuda, dorme sozinha, lava louça, faz mingau de aveia, chá”. E resume: “Tá melhor que nós”.

Netos se reúnem em torno da matriarca, na festa dos 100 anos. Foto: William Pinheiro
Cativados por sua doçura, longevidade e lucidez, os netos gostam de se reunir em torno da avó para, animadamente, ouvir suas saborosas histórias. Luciana, Karen, Kelly, Rafaela, Estefânia, Ellys e Alessandro são integrantes da comissão que preparou a festa do centenário da anciã, completado neste 11 de maio, véspera do Dia das Mães. O tema? Árvore Oliveira. E, provando que a genética da família é mesmo excepcional, o irmão José, de 97 anos, também esteve presente na celebração.
Afinal, trata-se de uma ocasião extraordinária para comemorar a vida da ilustre matriarca de 86 descendentes: 12 filhos, 36 netos, 36 bisnetos e dois tataranetos. “Uma bênção”, define ela.
E, sobre uma vida que já alcança os cem anos, dona Maria Nilce apenas se faz, como sempre, sorridente e singela, para dizer: “Se Deus quer…”

“Sou um milagre”, diz dona Maria Nilce. Foto: William Pinheiro
Por Onides Queiroz