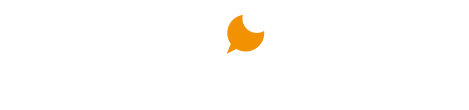Existe um fosso absurdamente grande entre o poder público e as minorias indígenas no país. Dois séculos de subjugação só alargaram ainda mais o abismo entre as instituições públicas e as nações indígenas na Amazônia. E no Acre não poderia ser diferente com a maioria das 18 etnias do estado.

Família de indígenas da etnia kaxinawá utiliza o rio para se deslocar de uma aldeia para outra. Povos necessitam, constantemente, da atenção do poder público/Foto: Odair Leal
Se o primeiro ciclo de exploradores vindo do Nordeste, nos anos 1900, para a extração do látex, causou danos profundos a essas populações, hoje, em pleno século 21, o cenário no estado mais ocidental do país é de tristeza e desolação, com famílias inteiras chegando às cidades para mendigar por roupas, comida e cachaça nas ruas.

Noite de lua cheia em um trecho do Rio Purus, enquanto o barco navega em direção a aldeia kaxinawá. Região é lar de inúmeros indígenas no Acre/Foto: Odair Leal
Nesta sexta-feira (19), Dia dos Povos Indígenas, ContilNet revela como uma dessas histórias pôde ter sido tão cruel para uma família kaxinawá que migrou, primeiramente, da aldeia onde nasceu, em plena selva, para Santa Rosa do Purus, cidade às margens do Rio Purus (a 500 quilômetros de Rio Branco). Depois, de Santa Rosa para a capital acreana, onde hoje continuam vivendo num caldeirão de incertezas, numa casa de um bairro periférico dominado por uma facção criminosa.
O que você vai ler nas próximas linhas é o paralelo de dois mundos de um mesmo grupo de pessoas, num intervalo de nove anos. Quase uma década depois do primeiro relato feito por este repórter, e pelo fotojornalista Odair Leal, denunciando o alcoolismo e mencionando a falta de assistência médica com ameaça de câncer de pele entre meninos indígenas albinos nas aldeias às margens do Rio Purus, nada mudou para melhorar a vida dessa família.

Siãn Kaxinawá, 28 anos, migrou para Rio Branco e hoje é chefe de uma família de indígenas de Santa Rosa do Purus que vive na periferia da capital acreana/Foto: Odair Leal
O poder público fracassou ao impedir um futuro digno a esses brasileiros, quando se constata, por exemplo, que de abril de 2015 aos dias atuais, a família continua em situação de insegurança alimentar, correndo o risco de abusos sexuais e com suas crianças longe da escola.
Para ContilNet, o coordenador-regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas no Acre, a Funai, Junior Manchineri, entende que as injustiças contra a população indígena no país são centenárias. Mas acredita também que a gestão do então presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022, colaborou para que os direitos indígenas no país fossem relegados a último plano, muito mais que foram no passado.
“Pagamos um alto preço pelo abandono a que os nossos indígenas foram submetidos no governo Bolsonaro”, destaca. Por outro lado, talvez por um viés ideológico, ele entende que o ano de 2023 marcou um novo tempo para as relações do estado brasileiro com as nações indígenas. “Estamos recomeçando tudo novamente neste novo governo”, assevera Manchineri.

Procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, assina ato que institui o Grupo de Trabalho na Defesa dos Povos Indígenas no mbito do MPAC, o Projeto Txai/Foto: Agência MPAC
Felizmente, no estado, o fio de esperança ressurge com o Projeto Txai, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível do município de Brasiléia e das Promotorias de Justiça dos municípios de Manoel Urbano e Assis Brasil. Um dos viés da iniciativa é facilitar o acesso indígena a direitos fundamentais, como por exemplo, aos postos e centros de saúde, à escola e à justiça.
Nove anos atrás, denúncia era de descaso com a saúde dos irmãos albinos
Santa Rosa do Purus, 4 de abril de 2015. O calor do verão intenso está a rachar o crânio. No meio da casa de paxiúba de uma rua lamacenta, a menina Vanessa, de 4 anos, clama por uma das necessidades mais básicas do ser humano: se alimentar. Por várias vezes, ela grita por ‘mabush’, mabush!’, que quer dizer ‘mingau’ em ratchãcuin, o idioma kaxinawá.

Vanessa, Orlando e Eliana em meio aos irmãos na casa administrada pela avó, Ilda Kaxinawá, em Santa Rosa do Purus, em abril de 2015. Vida extremamente difícil/Foto: Odair Leal
Já passava das 9h30 e, à exceção de Eliana, de apenas 1 ano, que recebeu o leite da mãe, o irmão Orlando, de 2 anos, assim como Vanessa, também não se alimentou desde a tarde do dia anterior. Elza Kaxinawá está grávida e não havia comido nada nas últimas 24 horas.
Ilda Kaxinawá, de 85 anos, a mãe de Elza e avó das crianças, se lamenta ao repórter: “Acabou os bananas. Não tem nada pra comer hoje, senhor”, num português carregado de sotaque.

Orlando, apesar das dificuldades de enxergar e das feridas pelo corpo, não gostava de ficar parado por muito tempo/Foto: Odair Leal
Se não bastasse a fome que dilacera o estômago de toda a família, os irmãos Orlando, Vanessa e Eliana são obrigados a enfrentar mais uma dificuldade, em meio à floresta escaldante e úmida, a condição de indígenas albinos. Num ambiente hostil, como são as florestas de Santa Rosa do Purus, essa situação torna a vida ainda mais difícil, sujeitando-os, inclusive, ao câncer de pele.

Garotinha Eliana com a mãe, Elza Kaxinawá e o irmão Orlando. Na família; em Santa Rosa do Purus1 eles viviam com os recursos do Bolsa Família/Foto: Odair Leal
A deficiência na produção de melanina causada por uma mutação genética faz com que as pessoas nesta situação tenham a pele muito branca e apresentem alterações na cor dos olhos e dos cabelos. Por isso, essas crianças têm dificuldade de enxergar e o corpo arde com o calor intenso do sol, enquanto centenas de insetos machucam, todos os dias, braços, pernas e pescoço numa voracidade cujo resultado é sangramento constante. Desse modo, morar na aldeia Nova Mudança, a oito horas de barco descendo o Rio Purus, desde Santa Rosa, é um martírio.
Por esta situação, Vanessa, a mais ruivinha, apresenta quadro depressivo. Quase não brinca com os irmãos e primos e tem crises de choro. Já Orlando é o mais ativo, sorri o tempo todo, é curioso e gosta de beliscar quem se aproxima.
“Não temos como mantê-los aqui por muito tempo por causa dos piuns e do sol forte”, explica o cacique Daniel Napoleão Kaxinawá, líder da aldeia Nova Mudança. Às margens do Rio Purus, nuvens de mosquitos hematófagos se formam, todos os dias, desde as primeiras horas de sol até o crepúsculo.

Feridas por causa de mosquitos, uma das aflições das crianças/Foto: Odair Leal
“A gente acaba se acostumando com as ferradas”, diz o líder da aldeia com uma dose de bom humor e resiliência, mostrando as pernas apinhadas pelas picadas do pium. O mormaço, a coceira, as feridas e umidade violenta da selva criam um ambiente praticamente insuportável até para adultos.
Em Santa Rosa do Purus, Fabiane Kaxinawá nos conta que os meninos pouco recebem a assistência da Saúde Indígena. Eles não fazem uso de repelentes, nem pomadas cicatrizantes para as feridas, aumentando o risco de contraírem câncer de pele.

Crianças albinas em 2015, em Santa Rosa do Purus. Vida difícil/Foto: Odair Leal
“Os ‘gentes’ de saúde vão pra aldeia e não levam remédios. Eles só examinam e vão embora. Por isso, trazemos eles (sic) pra cidade, porque aqui eles ficam melhor”, pontua Fabiane Kaxinawá.
De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, uma em cada 17 mil pessoas tem albinismo no mundo. Essa condição, portanto, é muito rara entre indígenas.

Em 2015, irmãos viviam em Santa Rosa do Purus. Vida sofrida por causa da falta de condições básicas de saúde/Foto: Odair Leal
Com relação à assistência às crianças albinas, a Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio no Alto Purus afirmou que ela é de responsabilidade do Programa de Saúde Indígena. Enquanto esteve em Santa Rosa do Purus, a reportagem não encontrou nenhum agente.
Na capital, família aumentou e todos ainda estão fora da escola
Rio Branco, 11 de abril de 2024. Na cozinha de uma casa em ruínas no bairro Vitória, na região da Regional São Francisco, a macaxeira é cozida no tacho com fogo de carvão. O gás acabou há uma semana. O carvão foi doado. A raiz, que é a base alimentar de muitas famílias acreanas de baixo poder aquisitivo, será servida com meia banda de frango que, por enquanto, está de molho na água para tirar o mau-cheiro habitual de carne de aves embaladas.

Na cozinha, família prepara o almoço: macaxeira cozida no fogão de lenha/Foto: Odair Leal
A casa é alugada por R$ 600 com a tarifa de energia incluída no valor do aluguel. Esse dinheiro vem de dois auxílios do governo federal concedidos para duas crianças pequenas. O quintal atrás da casa é completamente insalubre, com esgoto e matagal tomando de conta. O banheiro, ligado à varanda, não tem porta nem água encanada. Existem ainda somente duas paredes de madeira, que impedem a privacidade total de quem usará o vaso sanitário.
Ali, residem 15 pessoas, dos quais dez são crianças e adolescentes. O grupo aumentou ao longo dos anos, com o nascimento dos filhos de Marina Kaxinawá, 24 anos, a irmã mais velha dos indígenas albinos. Ela é casada com o atual chefe da família, Siãn Oliveira Rodrigues Kaxinawá, de 28 anos.

Família posa para a foto; em 9 anos, a prole aumentou, assim como as dificuldades de sobrevivência/Foto: Odair Leal
Siãn assumiu a liderança do grupo desde que o patriarca – seu sogro, cujo nome vamos preservar –, se enveredou na bebida, optando por viver pedindo dinheiro para inteirar a cachaça nas ruas do comércio do bairro São Francisco.
Há dois anos, todos partiram de Santa Rosa descendo o Purus, até alcançarem a ponte sobre a BR-364, de onde vieram de carona pela estrada até Rio Branco.

Ao fundo, no sofá, Vanessa e Eliana com os irmãos e demais integrantes da família; Orlando não estava em casa/Foto: Odair Leal
Vanessa hoje tem 14 anos, Orlando tem 11 anos e Eliana, 10. Suspeita-se que a primeira esteja com depressão. Vanessa quase não fala português e, assim como os irmãos, também parou de estudar há um ano, quando havia terminado o 6º ano do ensino fundamental. As dificuldades de fala e de visão a desestimulam a continuar os estudos, segundo a família, embora afirme que já tentaram fazer sua matrícula em uma escola do bairro.

Condições insalubres na casa alugada, como o banheiro precário, por exemplo, dificultam ainda mais a situação da família/Foto: Odair Leal
“Nós ia colocar ela aqui no Rio Branco, mas a escola disse que tem que ter documento. Tem que ter o transferência escolar. E isso está muito difícil de conseguir lá em Santa Rosa do Purus”, explica Siãn Kaxinawá.

Garotinha kaxinawá é filha de Siãn, a mais nova integrante da família que migrou para Rio Branco procurando auxílio/Foto: Odair Leal
Quanto a Orlando, se antes os mosquitos que se alimentavam de seu sangue nas ruas de Santa Rosa do Purus o deixavam inquieto, em Rio Branco é o movimento do comércio e a amizade com outros garotos que o animam a sair de casa sem hora, nem controle de ninguém para um retorno. Portanto, o risco de aliciamento pelo crime é altíssimo.
“Ele ganha o mundo quando o sol nasce. Só levanta e vai embora. Come por aí”, diz a mãe dos meninos, Elza Kaxinawá. “Ele faz assim, ó, e zummm. Vai embora”, diz ela, imitando os mesmos gestos de impulsividade do menino quando pequeno em Santa Rosa: pôr os braços para trás e inclinar a cabeça em direção à porta, desaparecendo logo depois. Agora, nas ruas do bairro São Francisco, não foi possível localizá-lo.

Casa onde moram na região do São Francisco é precária/Foto: Odair Leal
Eliana, a mais nova, tem ansiedade, enquanto que a deficiência em um dos pés dificulta a sua locomoção. Estende a mão pedindo por bolachas, num gesto também peculiar aos demais sempre que estranhos se aproximam.
Fabiane Kaxinawá, a personagem que denuncia a situação de descaso dos agentes de saúde na reportagem de 2015, segue vivendo em Santa Rosa, assim como a anciã Ilda Kaxinawá, avó dos meninos, que hoje tem 94 anos e desfruta de boa saúde, segundo seus familiares.
“Comecei curso técnico, mas o que me falta hoje é só uma oportunidade”
Siãn Kaxinawá é o mais escolarizado da família. Aos 28 anos, ele se orgulha de ter sido auxiliar de pedreiro e de ter concluído o nível médio. O pai, desde Santa Rosa do Purus, também chegou a bancar um curso técnico em administração de empresa numa escola especializada no centro de Rio Branco. Enviava os recursos. Faltou dinheiro. Não conseguiu terminar.

Siãn Kaxinawá diz do sonho de voltar a estudar e trabalhar em Rio Branco/Foto Odair Leal
“Foi um tempo bom. Tanto quando eu era diarista quanto no tempo em que eu podia estudar. Sabe, moço, hoje me falta só uma oportunidade. Me dispensaram do emprego na diária como servente de pedreiro porque chegou o inverno. E daí, nunca mais me chamaram. Tentei voltar várias vezes, mas não me deram oportunidade. Só uma oportunidade era o que eu queria”, lamenta o rapaz, sentado no chão da casa, em português muito bem pronunciado.

Família vive em situação muito difícil na região do São Francisco, em Rio Branco/Foto: Odair Leal
Ele continua: “Essa coisa de dizer que não gostamos de trabalhar não é muito bem como dizem. Todo dia é uma luta aqui pra sustentar a todos”, sobre o tom preconceituoso de que todo indígena é preguiçoso.
“Questão indígena como obrigação apenas governamental é um erro”
Junior Manchineri é o responsável pela Funai no Acre e acredita que a promoção de direitos sociais à população indígena está sendo retomada no país, ainda que lentamente, pelo novo governo Lula, desde 2023.
“Mas o que precisamos mesmo é que a sociedade entenda que essa é uma questão de todos nós. É um erro pensar que o problema dos indígenas hoje é só do governo federal. É preciso mais parcerias que promovam políticas integradas, articuladas entre os governos estaduais, as instituições não-governamentais e até com o cidadão mais simples, que tem o direito de reivindicar uma condição melhor para essas pessoas”.

Junior Manchineri é o coordenador da Funai no Acre/Foto: Arquivo Pessoal
Manchineri diz que é preciso “quebrar o paradigma de que apenas a Secretaria de Saúde Indígena e a Funai são as responsáveis pelo amparo aos indígenas no país”.
E neste sentido, ele elogia o MPAC pelo projeto Txai já mencionado aqui. Outro aspecto relevante, na opinião do gestor federal, é o fato de que pela primeira vez, um governo à frente da pasta temática indígenas legítimos.
“Temos hoje Joênia Wapichana, que era deputada federal pela Rede de Roraima, agora na presidência da Funai, e a Sônia Guajajara, que também se elegeu em 2022 para a Câmara dos Deputados pelo PSOL, mas hoje é ministra dos Povos Originários. Trata-se de um marco na história dos nossos povos e da segurança que faltava para impulsionar direitos fundamentais às nações indígenas no país”, pontua Junior Manchineri.

Pequena embarcação singra o Rio Purus com indígenas de aldeia kaxinawá/Foto: Odair Leal
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Acre tem ao menos 31.694 indígenas, distribuídos em 36 terras, onde estão localizadas 246 aldeias, em 12 municípios. Estão ainda incluídos nesta população, os indígenas isolados. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados no final de dezembro do ano passado.