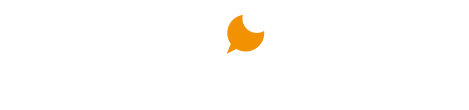Na primavera de 1981, os conservadores republicanos na House of Representatives choraram. Eles choraram porque no primeiro ímpeto da Revolução Reagan, que supostamente traria cortes drásticos nos impostos e gastos do governo, bem como um orçamento equilibrado, eles estavam sendo solicitados pela Casa Branca e por sua própria liderança a votar um aumento no limite legal da dívida pública federal, que estava, então, beirando o teto legal de US$ 1 trilhão.
Eles choraram porque ao longo de todas as suas vidas tinham votado contra um aumento da dívida pública, e agora eles estavam sendo inquiridos, pelo seu próprio partido e seu próprio movimento, a violar seus princípios de toda uma vida. A Casa Branca e sua liderança assegurou-lhes que esta violação nos seus princípios seria a última: que era necessário um último aumento do limite da dívida para dar ao presidente Reagan a chance de apresentar um orçamento equilibrado e começar a reduzir a dívida.
Muitos destes republicanos anunciaram, em lágrimas, que estavam dando este passo fatídico porque eles confiavam profundamente no seu presidente, que não iria traí-los.
Famosas últimas palavras. Em certo sentido, os entusiastas de Reagan tinham razão: não houve mais lágrimas, nem mais queixas, porque os próprios princípios foram rapidamente esquecidos, varridos para a lixeira da história.
Déficits e a dívida pública se acumularam enormemente desde então, e poucas pessoas se preocupam, muito menos os conservadores republicanos. A cada poucos anos, o limite legal é aumentado automaticamente. Ao final da era Reagan, a dívida pública era de US$ 2,6 trilhões, e depois US$ 3,5 trilhões e continuou a aumentar rapidamente.
E este é o lado florido da imagem, porque se você adicionar garantias de empréstimos e contingências “fora do orçamento”, a dívida pública global era de US$ 20 trilhões.
Antes da era Reagan, os conservadores eram categóricos sobre como se sentiam sobre déficits e a dívida pública: um orçamento equilibrado era bom e déficits e dívida pública eram ruins, acumulados por gastadores sem limites keynesianos e socialistas, que absurdamente proclamavam que não havia nada de errado ou oneroso com a dívida pública. Nas famosas palavras do apóstolo das “finanças funcionais” da esquerda keynesiana, Professor Abba Lerner, não há nada de errado com a dívida pública porque “nós devemos a nós mesmos.
”Naqueles dias, ao menos, os conservadores eram astutos o suficiente para perceber que faz uma enorme diferença se – dissecando os substantivos coletivos ofuscantes – uma pessoa é um membro do “nós” (o pagador de impostos sobrecarregado) ou do “nós mesmos” (aqueles que vivem dos proventos da tributação).
Desde Reagan, no entanto, a vida intelectual e política virou de ponta-cabeça. Conservadores e economistas supostamente “livre-mercadistas” viraram cambalhotas tentando encontrar novas razões pelas quais “déficits não importam”, e porque todos nós devemos relaxar e apreciar o processo.
Talvez o argumento mais absurdo dos Reaganomists foi que nós não devemos nos preocupar com o crescimento da dívida pública porque ela está sendo acompanhada no plano do Orçamento Federal por uma expansão dos “ativos” públicos. Aqui estava uma nova reviravolta na macroeconomia do livre mercado: as coisas estão indo bem porque o valor dos ativos do governo está aumentando! Nesse caso, por que não o governo nacionalizar todos os recursos a título definitivo? Os Reaganomists, na verdade, apresentaram todos os argumentos possíveis para a dívida pública, exceto a frase do Abba Lerner, e eu estou convencido de que eles não reciclaram essa frase porque ela seria difícil de sustentar com seriedade num momento em que a participação estrangeira da dívida nacional estava nas alturas.
Para pensar de forma sensata sobre a dívida pública, nós primeiro temos que voltar aos princípios iniciais e considerar a dívida em geral. Simplificando, uma operação de crédito ocorre quando C, o credor, transfere uma quantia em dinheiro (digamos, R$ 1.000) para D, o devedor, em troca de uma promessa de que D vai pagar a C, no período de um ano, o principal acrescido de juros.
Se a taxa de juros acordada na transação é de 10 por cento, então o devedor se obriga a pagar no prazo de um ano R$1.100 para o credor. Isto completa a transação de reembolso, que em contraste com uma venda regular, ocorre ao longo do tempo.
Até agora, fica claro que não há nada “errado” com a dívida privada. Como acontece com qualquer transação comercial ou troca privada no mercado, ambas as partes se beneficiam e ninguém perde. Mas suponha que o devedor é tolo, perde a cabeça, e depois descobre que não pode pagar a soma que tinham acordado? Isto, naturalmente, é um risco incorrido pela dívida, e o devedor deveria manter as suas dívidas no patamar em que ele pode efetivamente pagar. Mas este não é um problema da dívida somente.
Qualquer consumidor pode gastar de forma tola; um homem pode desperdiçar todo o seu salário em uma bugiganga cara e depois descobrir que ele não pode alimentar sua família. Então a falta de juízo do consumidor não é um problema exclusivo da dívida somente. Mas há uma diferença crucial: se um homem perde a cabeça e não pode pagar, o credor também sofre, porque o devedor falhou em devolver os bens do credor.
Num sentido profundo, o devedor que não pagar os R$ 1.100 devidos ao credor roubou uma propriedade que pertence ao credor; nós temos aqui não simplesmente uma dívida civil, mas um delito, uma agressão contra a propriedade de outrem.
Em séculos anteriores, a infração de ser devedor insolvente era considerada grave, e, a menos que o credor estivesse disposto a “perdoar” a dívida por caridade, o devedor continuava a dever o dinheiro acrescido de juros acumulados, além de multa por falta de pagamento. Frequentemente, os devedores eram aprisionados até que pudessem pagar – algo um pouco draconiano talvez, mas pelo menos no espírito apropriado de fazer cumprir os direitos de propriedade e defender a inviolabilidade dos contratos.
O grande problema prático era a dificuldade, para os devedores na prisão, em ganhar o dinheiro para pagar o empréstimo; talvez tivesse sido melhor permitir ao devedor ser livre, desde que sua renda subsequente fosse destinada a pagar ao credor o que lhe era justamente devido.
Já no século XVII, no entanto, os governos começaram a soluçar a respeito da situação dos infelizes devedores, ignorando o fato de que os devedores insolventes haviam obtido o que almejavam, acarretando na obrigação do pagamento da dívida ao credor e eles, governos, começaram a subverter sua própria proclamada função de obrigar ao cumprimento de contratos. Foram aprovadas leis de falência que, cada vez mais, livraram a cara dos devedores e impediram que os credores obtivessem sua justa propriedade. O roubo foi cada vez mais tolerado, a imprevidência foi subsidiada, e a parcimônia foi prejudicada.
Na verdade, com o dispositivo moderno, instituído pela Lei de Reforma de Falências, de 1978, os gestores e acionistas (com direito a voto) ineficientes e imprevidentes não só são deixados de cara limpa, mas muitas vezes permanecem em posições de poder, livres de dívidas e ainda gerenciando suas empresas, afligindo consumidores e credores com suas ineficiências.
Modernos economistas neoclássicos utilitaristas não vêem nada de errado com isso; o mercado, afinal, “se ajusta” a essas mudanças na lei. É verdade que o mercado pode se ajustar a quase qualquer coisa, mas e daí? Credores debilitados significa que as taxas de juros sobem de forma permanente, para o devedor sóbrio e honesto, bem como para o incauto; mas por que deveria o primeiro ser tributado para subsidiar o último? Mas há ainda problemas mais profundos com esta atitude utilitária: é a mesma reivindicação amoral, dos mesmos economistas, de que não há nada de errado com o aumento da criminalidade contra residentes ou lojistas do centro da cidade. O mercado, eles afirmam, irá se ajustar e se adaptar a essas altas taxas de criminalidade e, portanto, os aluguéis e os valores de habitação serão menores nas áreas centrais da cidade. Então, tudo estará resolvido.