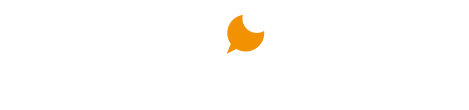Minha formação enquanto gestalt-terapeuta desde os últimos anos da minha graduação, passando pela formação continuada na abordagem até os dias atuais, foi e tem sido muito sustentada pela perspectiva existencial-humanista-fenomenológica, como é em sua base teórica e filosófica a construção e a consolidação da Gestalt-terapia. O resgate dessa informação – sobretudo quando se trata do existencialismo – esbarra na e atravessa a compreensão que tenho do fenômeno que interrompe a vida de pelo menos 800 mil pessoas por ano em todo o mundo: o suicídio.
Para a filosofia existencial, que tem como principais expoentes o escritor e crítico Jean-Paul Sartre e o dinamarquês Sören Kierkegaard, não há como compreender o suicídio sem a perspectiva e o conceito de responsabilidade – à revelia do entendimento feito pelo senso comum e ancorado na concepção de uma assunção da liberdade (também pensada como temática existencial). Trocando em miúdos, sem simplificar a discussão, aquele que tira a própria vida não está isento da responsabilidade de seu ato, embora o faça sob condições clínicas/psicológicas/predisponentes/precipitantes/situacionais – sobre essa última pretendo desdobrar o sentido da construção desse texto mais adiante.
Pensar o suicídio à luz dessa discussão nos faz compreender algumas questões, embora tenhamos uma luta em prol da vida e contra o triunfo da desesperança: 1. Não existe “controle” sobre o outro e sobre o mundo (o que serve como questionamento do introjeto de que o terapeuta “deve ser o guardião da vida e/ou o super-herói salvador”; 2. Não há “culpados” quando alguém tenta contra si (sem desconsiderar a dor dos que ficam com as incertezas sobre a “causa” de uma partida tão avassaladora); e 3. Como diz o ilustre Jorge Ponciano Ribeiro, a vida não é delegável, ainda que o nosso compromisso seja o de resgate das virtudes humanas.
O fato é que ao mesmo tempo em que dou cabo de “um homem só e sem desculpas” (Sartre, 1905-1980) e apreendo uma realidade que não está isenta da nossa “condenação a sermos livres” [também parafraseando o autor], acrescento à essa discussão, sem adversativas (na compreensão de que um entendimento não anula o outro), as compreensões de que todo fenômeno ocorre em um determinado campo (Teoria de Campo); de que somos seres-no-mundo-com-os-outros (Existencialismo heideggeriano) e que o homem e todo organismo vivo está interligado com o resto do mundo (Compreensão da GT – Alvim, 2015).
Há uma parte do suicídio que nos ajuda a lançar novos olhares para o todo, e aí que recupero o que mencionei a respeito das condições situacionais. Uma pessoa em “processo de morrência” (Fukumitsu, 2018) – o que antecede o ato letal – sofre em um campo, adoece e se interrompe nele e com ele. Se tratando de Brasil, então, eu usaria na frase, mais enfaticamente (considerando minhas projeções, rs), a preposição “com”, pois adoece junto. Sofrimentos tomam rumos diferentes (e não há julgamento para isso). Alguns chegam aos tipos agravados, como o suicídio, por exemplo.
Digressões à parte, fundamentado em tudo isso que citei, destaco que o suicídio é uma questão de saúde pública, que demanda intervenção política (seja nas esferas institucionais ou nas práticas desenvolvidas por profissionais de saúde mental), que tem como fundo interdependente e inter-relacional uma realidade de ataques às diferenças e atentados à democracia, de morosidade por parte de legisladores e operadores da Lei, especialmente quando se trata da garantia de direitos e de um cenário que seja suficiente para sobreviver (e nem isso tem sido ofertado).
O suicídio é problema político, comunitário, social e sistêmico porque ser pobre, negro, LGBTQIA+ e fazer parte de outras minorias subalternizadas, relegadas à margem em uma necropolítica, é possuir inúmeros fatores de risco para tirar a própria vida (Chinazzo, 2020). Não é delírio ou “recorte apaixonado”, mas resultado de dados científicos e estatísticos. Portanto, não adianta levantar bandeira amarela em setembro, dedicar apenas um mês para tratar da questão, se não entendemos ainda que precisamos suscitar nosso posicionamento contra quem defende tortura e aniquilação das diferenças, se passamos o resto do ano julgando o ato de tirar a própria vida como “investida malígna” ou não transformamos o nosso espaço de trabalho em um ambiente inclusivo e aberto às diferenças, se continuamos pregando terapias de reversão sexual e discursos preconceituosos, homotransfóbicos e elitistas.
Existe um lugar para lutar à favor da vida, mas ele precisa ser construído, antes de qualquer coisa, em cima das certezas de que não existe emancipação sem consciência social e que não há saída individual para problemas coletivos. E não será em um mês, em um ano ou em décadas, mas no re-direcionamento da nossa prática.
Everton Damasceno é psicólogo (CRP-20/09868), gestalt-terapeuta habilitado pelo Centro de Capacitação em Gestal-terapia de Belém do Pará (CCGT) e membro do Associação Brasileira de Gestalt-terapia (ABG).