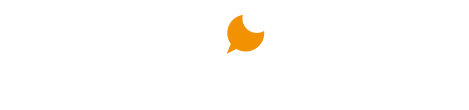Há um incômodo que não se resolve com slogans nem com solenidades. Ele aparece nas fotos oficiais, nos auditórios, nas mesas de decisão: uma fileira de homens. A dificuldade de mulheres chegarem a cargos de poder no Brasil não é um tropeço ocasional, é um método, um arranjo persistente que resiste a governos, reformas e promessas.
Tomemos o Supremo Tribunal Federal como metáfora – e diagnóstico. Em mais de um século de história, apenas três mulheres chegaram à sua composição: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Hoje, permanece apenas uma ministra, cercada por dez homens. Não é estatística, é mensagem: o topo da pirâmide continua sendo um clube quase exclusivamente masculino.
A persistência desse quadro revela algo além de eventuais “ausências de perfis” ou de justificativas burocráticas. Ela expõe portas de entrada desenhadas sob medida: redes de indicação mais fechadas, critérios de “notório saber” que se confundem com notório pertencimento, e uma cultura institucional que normaliza a exceção feminina como se fosse avanço suficiente.

Mayra Villasante
Advogada
O ritual das cadeiras: sai um, entra outro — e quase nunca é “outra”.
Quando uma cadeira fica vaga, as justificativas reaparecem com a previsibilidade de um carimbo: “experiência”, “confiança”, “equilíbrio político”. No noticiário recente, a saída de Luís Roberto Barroso da presidência do STF – um movimento institucional esperado pelo rodízio interno – coincidiu, no debate público mais amplo, com a manutenção de um padrão: as escolhas presidenciais para vagas na Corte seguem majoritariamente masculinas. Não se trata de um caso isolado; é uma linha do tempo. De governo em governo, a régua continua no mesmo lugar.
O argumento do “mérito neutro” costuma soar elegante, mas ignora que o caminho até o mérito é pavimentado por acesso, rede e oportunidade. Se a largada é desigual, o pódio seguirá previsível.
O funil que determina quem “tem perfil” começa muito antes da lista tríplice imaginária. Ele se constrói:
-
na sub-representação feminina em cátedras, bancas e espaços de visibilidade jurídica;
-
na penalização silenciosa da maternidade e do cuidado, ainda tratados como “problemas privados”;
-
no padrão de mentorias e patrocínios profissionais que, por tradição, favorecem os mesmos de sempre;
-
na pauta pública que associa “firmes” a homens e “firmes demais” a mulheres.
O resultado é conhecido: elas chegam menos, demoram mais e, quando chegam, ficam cercadas por um imaginário de excepcionalidade. O caso do STF é didático: três nomes em toda a história não compõem um mosaico; compõem um alerta. Um custo democrático da homogeneidade.
Não há democracia madura com ponto cego de gênero nas cúpulas. Decisão judicial é técnica, sim, mas é também enquadramento de mundo. Pluralidade não é ornamento, é garantia de qualidade decisória. Tribunais de vértice com vistas mais diversas tendem a ponderar melhor, enxergar efeitos colaterais e reduzir vieses que se escondem sob o manto do “universal”.
O que precisa mudar (de verdade)?
-
Compromisso público e transparente de que próximas indicações considerarão, de forma séria, a correção da sub-representação feminina. Não como cota simbólica, mas como política de Estado.
-
Ampliação do funil anterior à escolha: mais mulheres em bancas, eventos, cargos de direção acadêmica e institucional – visibilidade importa.
-
Mentorias e patrocínios institucionais para carreiras femininas no Direito público, não apenas no discurso, mas com metas, prazos e métricas.
-
Prestação de contas: cada indicação que ignora a desigualdade histórica precisa explicar por quê – e como pretende compensá-la adiante.
-
Revisão de critérios tácitos de “perfil”: se a régua é feita sob um corpo, ela medirá sempre do mesmo jeito.
Não basta celebrar pioneiras. Celebrar Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber é justo; tomar suas trajetórias como prova de suficiência é confortável – e errado. Um país que naturaliza “apenas uma” mulher no cume do seu Judiciário aceita que a exceção faça as pazes com a regra. E isso cobra um preço: empobrece o debate, afasta talentos e legitima o futuro como repetição do passado.
Enquanto a matemática da cúpula continuar assimétrica, cada nova vaga que se abre e volta a ser preenchida por um homem reafirma o que já sabemos: não é falta de mulheres qualificadas. É falta de vontade institucional. E vontade institucional, quando quer, muda práticas, derruba rituais e reorganiza prioridades.
Até lá, seguiremos com a mesma fotografia: uma ministra cercada por dez ministros. A imagem é elegante. O silêncio que ela carrega, não.