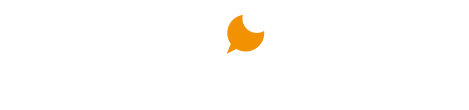“Meus pais, Amado Ali Hajoj e Zahieh Abdel Karim Hassan Hajoj, eram comerciantes e estavam casados havia 46 anos. Ele tinha 75 e ela, 65. Vieram da cidade de Bani Naeem, na Palestina, nos anos 1970. Meu pai trabalhava como mascate. Foi preso e torturado na guerra com Israel e resolveu fugir dali. Primos e outros parentes no Brasil o ajudaram a vir. Depois buscou minha mãe, de quem já estava noivo. Sou a filha mais velha de três, nasci em 1979 em Manaus”.
Desde que a pandemia foi decretada, em março de 2020, assumi a confecção da família. Como meus pais moravam com meus irmãos e suas respectivas famílias, achamos por bem isolar a todos, já que os dois eram idosos e, portanto, grupo de risco.
Na casa em que viviam, ninguém saía para nada. As compras eram higienizadas como manda o protocolo, havia álcool gel por todos os cômodos.
Na nossa cabeça, a chance de eles serem contaminados pelo novo coronavírus era bastante pequena, mas a verdade é que ninguém sabe nada sobre essa doença.
Depois de nove meses nesse esquema, achávamos que estávamos livres desse fantasma. Ainda assim, não afrouxamos o cerco.
O primeiro susto, no entanto, aconteceu foi na véspera do Natal. Papai começou com uma febre que não cessava e mamãe apresentou dor no corpo e muita tosse.
No início, montamos uma semi-intensiva em casa para eles não precisarem ir para o hospital — que já estavam lotados em toda a cidade. Mas não teve jeito.
Com muita falta de ar, meu pai deu entrada no hospital no dia 30 de dezembro e minha mãe, em 5 de janeiro – ambos por orientação médica.
A princípio, foram para um hospital particular, mas decidimos transferi-los para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é mais preparado em termos técnicos e é estão os melhores médicos de Manaus — são médicos que formam médicos. Com a transferência, ficamos mais tranquilos, até sabermos da falta de oxigênio nos hospitais da cidade.
Um dia antes de falecer, minha mãe recebeu a notícia da gravidez da minha cunhada e, muito emocionada, prometeu se esforçar para melhorar logo e sair daquele hospital para conhecer o novo bebê da família.
Era um sonho conhecer um filho de meu irmão, já que ele era o único que ainda não tinha dado um neto a eles — minha irmã e eu já temos filhos.
Meus pais tinham muitas esperanças de vida. Lutaram bravamente contra essa doença.
Minha mãe foi transferida da UTI no final da tarde de 13 de janeiro e, no dia seguinte, faleceu por asfixia, ou seja, por falta de ar; meu pai faleceu minutos antes, da mesma forma. Segundo um amigo que viu o atestado de óbito, foi uma diferença de 17 minutos.
Me falta o ar quando lembro de tudo que aconteceu. Os médicos que cuidaram dos meus pais nos deram a notícia do óbito com lágrimas nos olhos.
Na UTI onde meu pai estava, faleceram mais quatro pessoas; na enfermaria, mais quatro entubados. Todos precisando muito de oxigênio.
Catorze de janeiro foi o dia mais difícil da minha vida. Às 9h21 da manhã, recebi uma ligação da minha prima Salwa, que é cardiologista do hospital Getúlio Vargas, dizendo para eu ir até lá com urgência.
Ela só me disse que havia faltado oxigênio no hospital. Nessa altura, ela já sabia que eles tinham falecido, mas precisava que eu me mantivesse calma.
Eu disse à minha prima que havia um cilindro de oxigênio de 50 litros na casa dos meus pais. Troquei de roupa rápido e, ao mesmo tempo, liguei para o meu irmão para descer com o cilindro que eu levaria comigo.
Quando cheguei ao hospital havia três repórteres na porta. Salwa veio me encontrar na recepção. Novamente ela falou que faltou oxigênio no hospital e disse que meus pais não resistiram.
Eu gritei: ‘Como assim, Salwa? Os dois morreram?’. Acho que morri junto por alguns segundos. Nem no meu pior pesadelo aquilo poderia ser real! Eu só gritava: ‘Os dois não!’.
Queria acreditar que aquilo fosse mentira ou um equívoco! Gritava que a minha mãe estava melhorando, que já ia receber alta. Salwa tentava me explicar que o oxigênio no estado que os dois estavam era essencial.
Lembro de perder a força nas pernas, e minha prima me segurou. Meu irmão Iyad chegou e gritei que nossos pais haviam morrido.
Eu não podia abraçar meu irmão, já que ele ainda estava se recuperando dessa maldita covid. Na hora, minha prima trouxe aqueles protetores descartáveis de médicos e me vestiu. Abracei meu irmão, choramos juntos. Ainda tínhamos que dar a notícia à minha irmã mais nova.
O médico do meu pai pediu para falar conosco. Subimos para a antessala da UTI, onde eu sempre ia pegar o boletim dos meus pais.
A mesma sala em que, no dia anterior, recebi a notícia maravilhosa de que os exames de minha mãe estavam melhores e de que ela ia descer para a enfermaria.
Nessa mesma sala, com lágrimas nos olhos, o médico nos disse que tentou de tudo, mas que meu pai precisava de oxigênio.
Ele disse que não entendia como havia faltado oxigênio no hospital. Enquanto o corpo do meu paizinho passava da UTI para o elevador, de longe fiz minha oração de despedida.
Subi para o quinto andar, onde minha mãe estava. Nitidamente triste e constrangido, o médico dela repetiu as palavras do outro.
Que tinham tentado de tudo, mas não conseguiram salvá-la. Perguntei se ela havia sofrido pela falta do oxigênio e ele disse que, quando percebeu que não havia mais jeito, deu uma dose de sedativo. Aquilo aliviou um pouco o meu coração.
Os primeiros óbitos por falta de oxigênio do Getúlio Vargas foram meu pai e minha mãe. Quando desci para a recepção, já havia estourado a notícia e havia muita gente do lado de fora.
Muitos amigos haviam chegado ao hospital para tomar as providências de enterro e nos dar apoio. Eles deram a notícia aos nossos parentes na Palestina, porque estávamos sem condições. Nossa família lá entrou em desespero.
Meu irmão, que também estava com Covid-19, reconheceu os corpos, ajudou a funerária a colocá-los no caixão e fez as orações dentro da religião islâmica, que nós seguimos.
Assim ele se despediu deles. Eu não tive esse direito. Meus amados pais foram sepultados no mesmo dia do falecimento, às 15h30.
Não pode haver ninguém no velório e não pudemos oferecer um sepultamento como eles mereciam. Ficamos arrasados. E relembrar tudo isso ainda me dói muito.
O sheik da mesquita que frequentamos fez uma linda oração por eles, a distância no cemitério, e só.
Após o sepultamento, uma amiga me levou para casa e me lembro de todo o caminho de volta. Não abri a boca, mas minha mente não parou de falar e gritar.
Nunca imaginei que fosse faltar oxigênio num hospital renomado como o Getúlio Vargas. Só queria para eles os melhores médicos, e eles tiveram.
O melhor cuidado e tratamento, e eles tiveram. E por que faltou oxigênio? Como deixaram faltar algo tão importante? Por que não nos avisaram?
Sei lá, teríamos transferido meus pais, teríamos trazido oxigênio de onde fosse, teríamos feito alguma coisa… Esse foi o caminho mais longo e doloroso da minha vida.
A verdade é que os meus pais faleceram pela negligência e pela falta de amor ao próximo do governo aqui de Manaus, que está com as mãos inundadas de sangue dos meus pais e de tantos outros manauaras que também faleceram por falta de oxigênio.
Sem contar o descaso do governo federal. Meus pais não faleceram apenas de Covid-19. Eles tiveram o melhor tratamento do hospital e também dos médicos, mas morreram por asfixia, por falta de oxigênio.
O último encontro da minha família foi no dia 5 de dezembro de 2020. Na ocasião, meu irmão se casou numa pequena cerimônia islâmica na casa dos meus pais.
Como não poderia ter festa por conta da pandemia, foi feito algo simples, somente para os meus pais e irmãos. Somos uma família muito festeira e tínhamos combinado que faríamos uma grande festa no meio do ano, depois que a vacina saísse.
Tínhamos tantos sonhos e planos juntos! Nesse dia, meus pais estavam felizes e realizados por verem meu irmão se casar. Para eles isso era muito importante e valoroso.
Meu pai estava tão nervoso de alegria e emoção que me recordo que ríamos dele. Essa é a última lembrança que tenho de nós todos juntos, felizes, festejando e brindando à vida.”