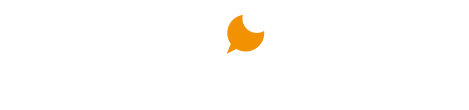O novo livro dos cientistas políticos Carlos Pereira e Marcus André Melo, “Por que a democracia brasileira não morreu?”, traz conclusões polêmicas dos autores sobre a efetiva ameaça à ordem democrática pelo governo Jair Bolsonaro, investigado no STF por planejar um golpe após ser derrotado nas urnas.
Baseados em avaliações sobre instituições sólidas e um emaranhado institucional que, em sua visão, funciona como freio a populismos e golpismos, os autores concluem que a ameaça não foi tão latente quanto pareceu, apesar de reflexos como o 8 de Janeiro.
Em entrevista à coluna, Carlos Pereira, professor da FGV, detalha por que vê com ceticismo, em perspectiva, a possibilidade que um golpe fosse dado por Bolsonaro, mesmo que houvesse apoio militar a uma aventura fora das quatro linhas da Constituição.
Baseados em avaliações sobre instituições sólidas e um emaranhado institucional que, em sua visão, funciona como freio a populismos e golpismos, os autores concluem que a ameaça não foi tão latente quanto pareceu, apesar de reflexos como o 8 de Janeiro.
Em entrevista à coluna, Carlos Pereira, professor da FGV, detalha por que vê com ceticismo, em perspectiva, a possibilidade que um golpe fosse dado por Bolsonaro, mesmo que houvesse apoio militar a uma aventura fora das quatro linhas da Constituição.
Na conversa, o cientista político também explicou dois momentos que, conforme o livro, foram decisivos ao governo Bolsonaro, a influência política da Operação Lava Jato na ascensão do populismo bolsonarista e o protagonismo político da Justiça, sobretudo do STF e do Ministério Público.
Vocês realmente não viram essa ameaça toda do governo Bolsonaro? Qual é o ponto de vista de vocês no livro?
A democracia brasileira sofreu uma intercorrência, que foi a eleição de um presidente com perfil populista, de extrema-direita e que teve um mandato marcado por uma estratégia de confronto com as instituições democráticas, tendo as instituições democráticas como arenas adversariais do seu governo. Isso gerou muitas preocupações, alimentadas não só pelo caso brasileiro, mas por várias experiências internacionais, com presidentes de perfil populista, sejam eles de esquerda ou de direita, na América Latina e no mundo, nos Estados Unidos, na Itália, na Turquia, na Polônia, na Venezuela. Vários desses presidentes foram eleitos e, uma vez no poder, alguns deles foram muito bem-sucedidos na concentração de poder e na fragilização das organizações de controle que supostamente deveriam oferecer limites a esse presidente poderoso.
E toda a ciência política começou a se debruçar sobre isso. Tivemos um livro que foi best-seller, traduzido para o português, escrito por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, “Como as democracias morrem”, inclusive o título do nosso livro é uma reação a essa publicação. A grande gama de autores que, a partir da eleição de populistas, filiam-se a essa literatura de erosão democrática parte do pressuposto de que essas instituições dos respectivos países e as sociedades seriam vítimas indefesas desses agressores, desses populistas. Como se as instituições de cada país ou o grau de organização de cada sociedade não pudessem oferecer resistências e resiliências eficazes a potenciais ameaças. Então, nesse livro, particularmente, argumentamos, não é que a democracia brasileira e as instituições fossem fortes. Elas são o que são, o próprio desenho do sistema político brasileiro gera antídotos eficazes contra populistas. Ou seja, o sistema político é dotado de uma série de pontos de veto muito fortes, tanto na esfera partidária como na esfera institucional. Temos várias instituições com capacidade de veto, como Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, controladorias, federalismo, governadores, constituições estaduais, assembleias legislativas, Congresso. São tantos pontos de veto dentro de um sistema político como o brasileiro, que é praticamente impossível que um populista consiga galvanizar energia suficiente dessas instituições e possa amalgamar um projeto autoritário. Então, não era porque as instituições políticas brasileiras eram fortes ou fracas, ou se elas estavam funcionando ou não, mas porque o próprio desenho institucional do sistema político brasileiro capacita o Brasil a se precaver contra arroubos autoritários.
Isso, por um lado, é muito positivo. É bom que se reconheça também, analisamos no livro, que, por outro lado, todos esses pontos de veto geram problemas governativos. A gente vive no Brasil um sistema presidencialista multipartidário em que o presidente não dispõe de maioria legislativa e, consequentemente, o processo governativo é truncado, ineficiente, é visto por uma parcela considerável da população brasileira como um jogo sujo. Isso gera um mal-estar na sociedade, um distanciamento do eleitor perante os políticos, porque ele não entende muito bem como é que partidos políticos ou lideranças políticas que eram fiéis escudeiros do governo anterior passem a ser fiéis escudeiros do novo governo. Isso soa esquisito para muitos brasileiros e gera desconfiança, gera a percepção de que o sistema é ineficiente e não resolve os problemas do brasileiro. Mas, mesmo diante de tamanha ineficiência ou da percepção de que o jogo está sendo jogado de uma forma não limpa, ele cria essas barreiras de proteção, mecanismos institucionais que tornam a vida de qualquer populista, de esquerda ou de direita, muito mais difícil do que se o sistema fosse majoritário e unificado, em que não existissem vetos institucionais dentro do próprio jogo.
Não havia um empenho do então presidente de fazer essas sistemas falharem? Se os três comandantes militares tivessem topado uma aventura golpista com Bolsonaro, embora não houvesse ambiente para uma ditadura, isso já não seria suficiente para balançar a democracia?
Vamos imaginar que todos tivessem topado essa aventura golpista, o golpe teria ocorrido? O que eu e Marcus tentamos responder no livro é que não. Não teria ocorrido, porque esses atores político-militares embarcarem num jogo autoritário seria suicida para eles mesmos. Eles enfrentariam restrições de toda sorte, reputacionais, de carreira. Ou seja, seria muito arriscado para esses generais embarcarem num jogo dessa natureza. A sociedade estava muito atenta e vigilante. A imprensa brasileira é muito investigativa e cumpre papel fundamental na qualidade liberal da democracia brasileira. Qualquer estrato militar que tivesse formalmente ou informalmente embarcado numa trajetória autoritária teria que enfrentar custos de toda a sorte. Foi por isso, inclusive, que nós argumentamos que esses outros militares não toparam. Não toparam não só por uma questão de conversão moral de que estavam comprometidos com a democracia. Eles não toparam porque a possibilidade de uma aventura dessa natureza ser bem-sucedida seria muito baixa em um Brasil de características continentais, democracia sólida, com todos esses pontos de veto que eu mencionei. Essa conversa toda ainda não está muito clara, porque nós temos apenas depoimentos, delação premiada de alguns dos envolvidos. A história política brasileira terá que ser contada. Talvez tenham mais elementos sobre isso. Talvez sejam identificados outros setores. Existe denúncia de que outros setores do Exército também participaram, inclusive, de 8 de Janeiro. Existem evidências, indicações muito fortes de que setores do Exército também estavam infiltrados ali. O que sugere que não foi a ausência ou a não concordância de militares, ou de generais, ou de ministros militares que fizeram com que o golpe não tivesse ocorrido, mas sim desse vigoroso emaranhado institucional, que protege intrinsecamente esse sistema contra tentativas de solapar as regras do jogo democrático. Acho que a democracia brasileira responderia de forma muito clara e muito direta, mesmo que generais ou setores importantes das Forças Armadas tivessem embarcado nessa proposta autoritária do ex-presidente Bolsonaro.
Quando vocês se debruçam a responder por que a democracia brasileira não morreu, falam em dois choques. Um é pandemia e o outro, a corrupção e o colapso da aliança com a Lava Jato. O que eles significaram esses dois movimentos?
Em situações de crise, como a que o governo Bolsonaro enfrentou, de uma pandemia, é muito esperado que os governos utilizem esses momentos para unificar e galvanizar o país em torno da sua liderança e, consequentemente, alcançar muito mais popularidade. Inclusive, tinha-se muito receio de que vários desses populistas pudessem aproveitar os momentos de pandemia para fragilizar a democracia. Mas o ex-presidente Bolsonaro, ao invés de aproveitar esse momento de grande fragilidade que foi a pandemia para tentar unificar os brasileiros em torno da sua liderança, dividiu os brasileiros, porque teve uma política de combate à pandemia muito temerária, que colocou em risco a vida de milhões de brasileiros, inclusive brasileiros que votaram em Bolsonaro em 2018. De certa forma, o ex-presidente não entendeu a importância daquele momento para o seu próprio eleitor, não só para os eleitores dos outros candidatos. E ele perdeu muita popularidade. Ele só recuperou popularidade durante a pandemia quando lançou o programa de ajuda emergencial, mas logo em seguida, quando o programa reduziu o seu valor, ele não mais recuperou a popularidade. Houve um choque importante no seu governo que o fragilizou e o levou a jogar o jogo institucional. Porque, até aquele momento, Bolsonaro tinha inclusive saído do seu próprio partido. Ele tinha se negado a construir uma coalizão, negava o presidencialismo de coalizão, associava-o ao presidencialismo de corrupção. Consequentemente, tinha uma relação muito mais direta com seu eleitorado, ao invés de mediar essa relação por meio das instituições, por meio dos partidos e o Congresso.
Mas a pandemia o tornou tão vulnerável, começaram-se a descobrir esquemas de corrupção de alguns dos seus filhos em processos de rachadinha e Bolsonaro fez gestões naquela época ao então ministro Sergio Moro para obstaculizar, interferir na Polícia Federal para que as investigações, especialmente relacionadas aos seus familiares, não progredissem. No momento em que Moro se recusa a jogar esse jogo, pede demissão e sai do ministério, rompe, de certa forma, essa conexão que o governo Bolsonaro nutriu com os atores e apoiadores da Lava Jato. E vai em busca dos braços do centrão de uma forma desesperada. No momento que Bolsonaro buscou uma coalizão de sobrevivência, interpretei isso como sinal claro de que a democracia brasileira corria cada vez menos riscos. Porque ele se domesticaria quanto mais jogasse o jogo das instituições democráticas. Foi o que aconteceu. O centrão serviu de grande anteparo, inclusive para impor limites a esse arroubo autoritário do ex-presidente. Esses dois choques, tanto a pandemia como as descobertas de escândalos de corrupção, geraram incentivos para que o presidente jogasse o jogo institucional, procurasse uma coalizão, mesmo que não majoritária. Pelo menos, essa coalizão foi grande o suficiente para obstaculizar iniciativas que pudessem abreviar o mandato do ex-presidente.
A Lava Jato, de certa maneira, preparou o terreno para o sentimento antipolítica, que seria uma das brechas que Bolsonaro usaria para se eleger?
A gente tenta argumentar no livro que Bolsonaro não surgiu por uma demanda da sociedade brasileira por uma alternativa de extrema-direita. Foi mais um problema de oferta, não um problema de demanda. A alternativa a Bolsonaro ela estava muito comprometida com os escândalos de corrupção revelados pela Lava Jato. O ex-presidente Lula estava preso. O centro perdeu esse espaço, essa agenda, porque também foi chamuscado pelos escândalos da Lava Jato. O governo do presidente Temer foi muito bem-sucedido no Legislativo numa conjuntura muito difícil de pós-impeachment, muita polarização, fragmentação partidária muito grande. Mas conseguiu montar uma coalizão majoritária e comprometer essa coalizão porque dividiu o poder e recursos de forma proporcional com seus parceiros. Mas a Lava Jato conseguiu identificar gravações de Temer e do presidente do PSDB à época, Aécio Neves, com Joesley Batista. Isso basicamente fragilizou demais as alternativas eleitorais de centro e deixou um campo fértil para uma alternativa à direita, muito bem preenchida pelo ex-presidente Bolsonaro, que fez uma campanha surpreendentemente vitoriosa, utilizando de forma muito inteligente as mídias sociais e se torna presidente da República.
Não acredito que, necessariamente, a Operação Lava-Jato teve como pressuposto macular uma determinada alternativa política a Bolsonaro. Nem tampouco que existisse uma conexão dos procuradores e do então juiz da Lava Jato com as ambições políticas de Bolsonaro. Mas, em uma conjuntura de crise econômica, de cinismo social muito forte, de descrença nas instituições, nos partidos políticos, nas alternativas eleitorais que esses partidos estavam ofertando, esse, de fato, foi um o espaço por excelência em que Bolsonaro utilizou muito bem.
Vocês usam no livro uma expressão que é “cachorro forte precisa de coleira grande”. Poderia explicá-la?
A pergunta que a gente se faz é como o sistema de Justiça, especialmente Suprema Corte e Ministério Público, se tornou tão proeminente na política brasileira. Argumentamos no livro que isso se deu por uma escolha institucional do legislador constituinte. Ele se deparou com algumas escolhas quando estava decidindo o seu sistema político. A primeira delas, em relação ao sistema eleitoral, foi majoritária pela manutenção do sistema proporcional de lista aberta para eleger deputados à Câmara. Com esse sistema, há multipartidarismo e, consequentemente, dificuldade do presidente em obter maioria legislativa. Para que esse presidente consiga obter maioria legislativa, precisa ser forte o suficiente para servir de polo de atração para que os partidos tenham interesse de gravitar em torno do Executivo. De 1946 a 1964, o presidente brasileiro era constitucionalmente muito frágil, não tinha poder de decreto, Medida Provisória, poder de urgência, poder orçamentário, ou seja, não tinha poder de agenda legislativa. O legislador, quando decidiu por manter o sistema proporcional com lista aberta, se deparou com um dilema: vamos reproduzir o mesmo sistema de 1946 a 1964, que era super instável? A escolha fundamental que o legislador constituinte fez para que o Brasil não enfrentasse problemas de paralisia decisória, tão comuns nesse período, foi delegar poder para o presidente, fazer dele um grande CEO da máquina governativa, com a capacidade de ter vários poderes de agenda de governo e orçamentários, tornando-o polo em que os partidos tinham atração para entrar na sua coalizão. A partir dessa escolha, só faz oposição no Brasil quem tem candidatos competitivos e carismáticos dentro dos seus quadros e tem ambição de disputar a próxima eleição. Sabendo que o presidente se torna poderoso e vai conseguir montar coalizões majoritárias, qual foi o grande problema do legislador? Foi “quem vai controlar esse cara?”. Quem vai ser capaz de dizer “não” quando esse presidente sair da linha, quando se comportar de forma corrupta?
É daí que vêm uma Justiça e um Ministério Público tão protagonistas da política?
Sabia-se que as instituições de controle legislativo seriam incompetentes para fazer esse trabalho, porque essas maiorias legislativas pró-governo iriam obstaculizar qualquer iniciativa que viesse a trazer inconvenientes para o presidente. Diante dessa limitação, o legislador escolheu delegar poderes a um conjunto de atores supostamente fora da política com essa capacidade de constranger o presidente. Foi aí que o Judiciário e o Ministério Público se transformaram em grandes atores políticos. Só que levou um certo tempo para que o próprio Judiciário percebesse esse poder que havia sido delegado pelo legislador: apenas no julgamento do mensalão, quando a Suprema Corte surpreendeu a grande maioria dos brasileiros – existiam pesquisas de opinião que sinalizavam que a grande maioria da população acreditava que os envolvidos no escândalo eram culpados, mas sem qualquer expectativa de que seriam punidos. Quando a Suprema Corte impõe perdas políticas e judiciais não triviais a elites políticas poderosas, ao tempo em que essa mesma elite política ainda estava no poder, isso gera um reconhecimento muito grande de que o Judiciário tem poderes capazes de constranger o Executivo. A partir do mensalão, ocorre um processo progressivo de fortalecimento das organizações de controle, uma série de iniciativas a partir da Operação Lava Jato também se constitui, é aprovada a lei anticorrupção no governo Dilma, a lei da leniência, lei da delação premiada, lei da transparência, lei da Ficha Limpa.
Hoje, nesse pós-Lava Jato e tudo que estamos vivendo depois das revelações da chamada Vaza-Jato, não há uma impressão de que estão aos poucos dinamitando o sistema que permitiu que tivéssemos, ainda que com erros, um combate à corrupção tão vigoroso como nos últimos anos?
Quando a Operação Lava Jato começou, de uma forma muito ampla, a impor perdas não apenas em um Executivo desviante, mas a várias elites políticas, era natural que houvesse uma rebordosa. É importante perceber que, mesmo diante das restrições que a luta contra a corrupção enfrenta no Brasil, é muito difícil imaginar que o país vá voltar à era pré-Lava Jato, ou à era pré-mensalão. Todo esse percurso alcançado mostra uma solidez institucional muito grande. Até o momento não houve grandes reversões institucionais. É importante termos distanciamento, uma visão muito mais ampla desse processo e perceber que uma luta contra a corrupção, em qualquer país do mundo, não é uma linear, é uma luta de altos e baixos, idas e vindas. É importante ver a linha da tendência. Hoje, o risco e a probabilidade ser pego em comportamentos desviantes é muito maior. Hoje, a Polícia Federal está muito mais equipada, as instituições de controle têm muito mais instrumentos institucionais de atuação. Existe um legado institucional importante que foi deixado, em que pese esse refluxo, quero crer de forma momentânea, na luta contra a corrupção.