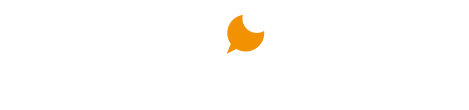A TPI é um indicador, segundo o arqueólogo, porque é um solo que era natural e foi modificado, virou fértil por causa da ação humana. Então saber quando começou a ser formada é interessante também para descobrir qual a antiguidade desse processo de manejo, que é um modelo agroecológico. “Os dados que conseguimos em Rondônia são bacanas porque mostram que é um método milenar”, disse referindo-se à terra preta encontrada no sítio Teotônio, em Rondônia, que data de cerca de seis mil anos atrás, enquanto a achada no Amazonas tem em torno de 2.500 anos.
Mas Neves destaca que havia gente vivendo na Amazônia bem antes disso. Há uns 14 mil anos e os dados de Rondônia revelam que há pelo menos seis mil anos esse processo de modificação e manipulação da natureza já estava acontecendo. “Mostram também que algumas plantas eram cultivadas há cerca de nove mil anos, como a castanha da Amazônia, o ariá (uma espécie de raiz) e a goiaba. A partir de seis mil anos vemos que outras plantas passam a ser cultivadas também como milho, batata-doce, talvez a mandioca e alguns tipos de feijões”, contou.
Outro fato relevante, na visão do arqueólogo, é que se conhecer mais sobre a terra preta, a ponto que se consiga reproduzi-la, será possível fazer uma contribuição significativa para a agricultura na região, onde a maioria dos solos é pobre. Além disso, sabendo como enriquecer esses solos com nutrientes, com uma forma mais sustentável de produção, pode haver menos desmatamento. “Estamos vendo o aumento do desmatamento, as ameaças à floresta e aos povos indígenas. Quando a floresta é destruída não é só um patrimônio natural que perdemos, mas também o reflexo dessas formas de conhecimento de natureza de manejo. Então é importante trazer esse tipo de informação para que tenhamos mais empenho para proteger e respeitar essa floresta e também esse conhecimento tradicional”, frisou.

/Foto: Reprodução
Importância para a agricultura
Para o agrônomo Gilvan Coimbra Martins, pesquisador da área de solo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) da Amazônia Ocidental, compreender como esses solos de terra preta de índio se formaram e se mantiveram férteis numa região de alta precipitação e perdas de nutrientes do solo como a Amazônia é fundamental para que sejam encontradas maneiras mais sustentáveis de enriquecer o solo de forma a melhorar o desempenho da agricultura e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto do uso de fertilizantes ao meio ambiente.
“A agricultura chegou num estágio que precisa de coisas novas para aumentar a produtividade, então entender esse solo de terra preta seria um avanço já que nosso solo, em geral, tem baixa produtividade”, opinou o agrônomo.
O problema é que, apesar de muitas pesquisas, inclusive desenvolvidas com equipe multidisciplinar e multinstitucional pela própria Embrapa no Amazonas, ninguém consegue reproduzir esse solo ainda. “O nosso projeto visava entender como esse solo foi formado. Gerou vários dados da química e física desse solo, por exemplo, mas nada conclusivo para que conseguíssemos reproduzi-lo. Precisa de mais detalhes para replicarmos esse solo aqui”, afirmou.
Martins explica que, em geral, os solos tem origem pela pedogenética (deterioração de rocha), mas a terra preta provavelmente foi originada pelo manejo que nossos antepassados fizeram. “O fato é que este é melhor, é eutrófico (fértil), tem muitos nutrientes em relação ao nosso solo de origem pedogênica. Para a agricultura seria bem melhor para plantar”, observou.
O que se sabe até agora, diz o pesquisador, é que os indígenas faziam acumulação (restos de peixes, animais e vegetais queimados) nas aldeias e usavam fogo em combustão parcial. Tal estrutura de carvão torna o solo mais estável, mais difícil de degradar, ou seja, pode ser usado bastante, mesmo assim conserva os nutrientes. “Mas ninguém sabe o tempo que levava para fazer, nem a temperatura. O certo é que hoje em dia você vai medir e sabe que esses nutrientes estão lá”, ressaltou.
Cenário local da arqueologia
O arqueólogo e pesquisador Eduardo Góes Neves analisa que a situação, hoje em dia, para a pesquisa arqueológica no Amazonas é bem melhor do que era há quase 30 anos quando ele chegou à região. “Temos um grande laboratório bem montado na Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e um curso de graduação em arqueologia na UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Isso é muito bom”, comemorou.
Ao mesmo tempo, porém, Neves critica a falta de uma área de arqueologia constituída na Ufam. “Não tem arqueólogos. Tinha um, o doutor Carlos Augusto da Silva, que se aposentou. Não tem nenhum professor de arqueologia na Ufam. Isso é uma pena porque o Amazonas é um estado tão importante, tão grande, com uma universidade tão boa quanto a Ufam, mas não tem uma área de arqueologia desenvolvida”, citou.
Para ele, é preciso contratar arqueólogos para formar novos profissionais da área na Ufam a fim de atender a demanda da região. “Tem muitos alunos que gostariam de seguir carreira através da Arqueologia. Estudantes dos cursos de história, ciências sociais, geografia, por exemplo. A Ufam tem um laboratório que a infraestrutura para arqueologia é uma das melhores do Brasil, mas faltam professores que tragam pesquisa, que sejam daqui, que vivam aqui, que trabalhem na universidade”, salientou.
Neves comenta que em outros lugares da Amazônia esse quadro está um pouco melhor – quando se trata de ensino e pesquisa na área de arqueologia em instituições federais. “Em Rondônia (RO), tem um curso de graduação em arqueologia com vários arqueólogos; em Santarém (PA), também tem um com bons arqueólogos; em Belém (PA), temos o Museu Goeldi; em Macapá (AP), o IEPA (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas). Ou seja, em geral, a situação está melhorando, tem mais centros de pesquisa, laboratórios organizados, mas, mesmo assim, dada a dimensão da Amazônia, teria que ter muito mais ainda”, expôs.
Imensas áreas do Amazonas ainda são totalmente desconhecidas, diz Neves. “O que conhecemos um pouquinho melhor é parte do rio Negro, região de Manaus, Manacapuru, Iranduba, um pouco de Parintins, Itacoatiara, Maués, alguma coisa de Coari e agora de Tefé, onde tem um grupo ativo no Instituto Mamirauá. Tirando esses lugares, ninguém sabe quase nada dos demais”.