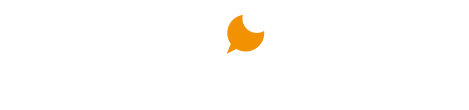Claudia Sabino e Mayra Villasante
Advogadas
A vida, para muitos, é uma corrida; uma jornada individual em busca de metas e realizações. No entanto, para nós, mulheres, essa maratona se revela singularmente desafiadora. O percurso é intrincado, repleto de obstáculos que frequentemente permanecem invisíveis aos olhos masculinos, com um ponto de partida que historicamente nos coloca em desvantagem. É um trajeto onde cada passo é pavimentado por questionamentos incessantes, resistências veladas e um cansaço que transcende o físico, atingindo a alma. Enquanto para outros a estrada se descortina limpa e segura, para nós é um verdadeiro labirinto, onde cada avanço representa uma batalha heróica e a vitória, uma conquista arduamente celebrada.
Basta um olhar atento para a história recente para dimensionar essa disparidade. No início do século XX, por exemplo, mais precisamente em 1920, mulheres já demonstravam sua paixão e talento nos campos de futebol, correndo atrás de uma bola com a mesma dedicação que qualquer homem. Contudo, a profissionalização da modalidade feminina só veio a ser regulamentada e reconhecida oficialmente em 1983. Sessenta e três longos anos de atraso para o reconhecimento de um direito básico ao trabalho e à expressão de uma paixão. Essa demora ecoa a igualmente árdua luta pelo direito ao voto, que só foi conquistado no Brasil em 1932 – um direito fundamental que hoje nos parece tão óbvio, mas que exigiu um embate social e político extenuante.
A resistência à nossa presença em espaços considerados “masculinos” é ainda mais visceralmente retratada no episódio de 1967, quando uma mulher ousou correr uma maratona e foi perseguida fisicamente por um organizador que tentou arrancar-lhe da prova. Ela não desistiu, completou a corrida, mas a imagem daquela perseguição é um retrato pungente da intransigência e do desprezo que enfrentamos ao desafiar normas impostas.
Mesmo na contemporaneidade, quando tantos direitos parecem solidificados e garantidos na letra da lei, a efetividade e a concretização desses avanços dependem de um movimento contínuo, de uma vigilância incansável. A história é a prova inconteste de que nada nos foi entregue de bom grado, todas as nossas conquistas foram frutos de luta. E, da mesma forma, nada permanecerá sem uma guarda constante.
Personagens históricas como Hipólita Jacinta, figura feminina notável na Inconfidência Mineira; Maria Quitéria, pioneira na defesa da pátria; e até mesmo Dona Leopoldina, personagem essencial no complexo processo de independência do Brasil, tiveram suas inestimáveis contribuições apagadas ou minimizadas nos registros oficiais e na memória coletiva. Esse silenciamento persistente de vozes femininas revela a extensão do esforço e da coragem sempre exigidos para que pudéssemos ocupar espaços que, por séculos, nos foram sistematicamente negados e contestados.
A autonomia sobre o próprio corpo, um pilar fundamental da liberdade individual, também foi, por muito tempo, uma miragem distante para as mulheres. Até o ano de 2022, para que uma mulher pudesse tomar a decisão de realizar uma laqueadura, era necessário preencher requisitos como ter no mínimo 25 anos de idade, possuir ao menos dois filhos e, no caso de ser casada, a humilhante e arcaica autorização formal do cônjuge. Embora a idade mínima tenha sido reduzida e a exigência do “permitido” conjugal tenha, finalmente, desaparecido, a barreira dos dois filhos ainda permanece. Este é um lembrete constante e inaceitável de que nossa capacidade de decisão e nosso papel reprodutivo continuam a ser vistos e regulamentados sob a ótica de um controle externo, raramente aplicado aos homens, perpetuando uma desigualdade flagrante.
Essa mentalidade profundamente enraizada permeia cada camada da sociedade, com reflexos particularmente evidentes no mercado de trabalho. Este ambiente, convenhamos, foi historicamente moldado à imagem e semelhança do homem, com suas dinâmicas intrínsecas, hierarquias estabelecidas e expectativas de carreira que desconsideram as realidades femininas. Não é surpresa, portanto, que a representatividade feminina em posições de liderança continue sendo um espelho doloroso dessa realidade.
No universo do futebol brasileiro, por exemplo, uma busca rápida por quantas mulheres que já presidiram times revela um número ainda ínfimo, quase irrelevante, em um universo dominado por figuras masculinas. Essa estatística é uma prova cabal de como é árdua e desafiadora a nossa ascensão a espaços de poder, seja nos gramados ou nos mais altos conselhos administrativos. Não enfrentamos apenas a desigualdade de oportunidades, mas também salários que são, em muitos casos, infinitamente menores para as mesmas funções, e a constante necessidade de provar nossa competência, enquanto para eles, a presunção do mérito já existe, um privilégio inquestionável.
E o aspecto mais perverso dessa competição desleal é quando ela nos volta, de maneira insidiosa, umas contra as outras. O que muitos chamam de “machismo feminino” — essa rivalidade incentivada, essa percepção distorcida de que precisamos disputar migalhas em um ambiente hostil e escasso — é um veneno sutil que nos enfraquece coletivamente. Em vez de unirmos forças para abrir as portas que nos foram cerradas, muitas vezes nos vemos brigando sobre qual de nós passará primeiro, ou quem merece mais o reconhecimento, esquecendo que a verdadeira força reside na união e na solidariedade para derrubar o muro inteiro que nos segrega.
Recentemente, em uma eleição para a diretoria de uma associação de mulheres, o que se viu foi um verdadeiro show de horrores, protagonizado por mulheres maduras, com acusações, ataques pessoais e desunião pública. Que exemplo estamos deixando para nossos filhos, para as futuras gerações de mulheres, e para a própria sociedade quando replicamos internamente a mesma dinâmica de competição e desunião que tanto criticamos nas estruturas patriarcais? Essa prática, além de contraproducente, desvia nosso foco do inimigo comum: a desigualdade sistêmica.
Há, contudo, um paradoxo ainda mais sombrio que acompanha a ascensão feminina. Quanto mais conquistamos autonomia, quanto mais nos empoderamos, quanto mais ousamos ocupar nosso legítimo lugar de direito na sociedade, mais alguns homens se sentem ameaçados por essa mudança de paradigma. E essa ameaça, lamentavelmente, se traduz em violência explícita. O aumento alarmante dos feminicídios, em vez de diminuir com o avanço da pauta feminina e da conscientização sobre os direitos das mulheres, parece intensificar-se, revelando o lado mais perverso e brutal do machismo estrutural: o medo profundo do poder feminino, o desejo incontrolável de silenciar, controlar e subjugar a mulher que ousa ser livre e independente. Além de tudo isso, persiste um olhar preconceituoso que se impõe em cada esfera de nossas vidas, tanto na pública quanto na privada.
Há uma retórica moderna que proclama a igualdade de gênero, mas, na prática cotidiana, resiste a tentativa de nos diminuir, desmoralizar e restringir nossa atuação. A misoginia se manifesta de formas diversas: nas falas condescendentes, nos gestos de desdém, nas omissões propositais e, de maneira mais cruel, no discurso de ódio, que é sempre mais violento e virulento quando dirigido a mulheres. Por tudo isso, seguir avançando exige não apenas resistência individual, mas, sobretudo, união e ação coletiva: é no coletivo que encontramos a força intrínseca para romper essa cultura arraigada que insiste em nos reduzir e para transformar direitos formais em uma realidade concreta e palpável para todas.
Diante de um cenário tão complexo e, por vezes, brutal — em que ainda carregamos o peso de uma história que tentou nos silenciar e enfrentamos diariamente olhares e atitudes que insistem em nos diminuir — a rivalidade feminina é um luxo que simplesmente não podemos nos permitir. É uma armadilha perigosa que nos desvia da verdadeira batalha: a conquista de um espaço que sempre exigiu luta, resistência inabalável e a presença coletiva de mulheres unidas.
Para que possamos finalmente transformar direitos que estão apenas no papel em uma realidade vívida, é imperativo que reescrevamos essa narrativa com a tinta da solidariedade, do reconhecimento mútuo de nossas forças e fragilidades, e da sororidade mais profunda. Que a nossa força emane da irmandade, do respeito incondicional entre nós, da compreensão de que o sucesso e a ascensão de uma mulher ampliam e iluminam o caminho para todas as outras. É tempo de deixarmos para trás as velhas disputas internas e nos unirmos, ombro a ombro, como legítimas e poderosas representantes de nós mesmas. Somente assim poderemos, juntas, pavimentar uma nova estrada: justa, firme, segura e, acima de tudo, luminosa para todas as mulheres que virão e que merecem um futuro sem as pedras do passado.